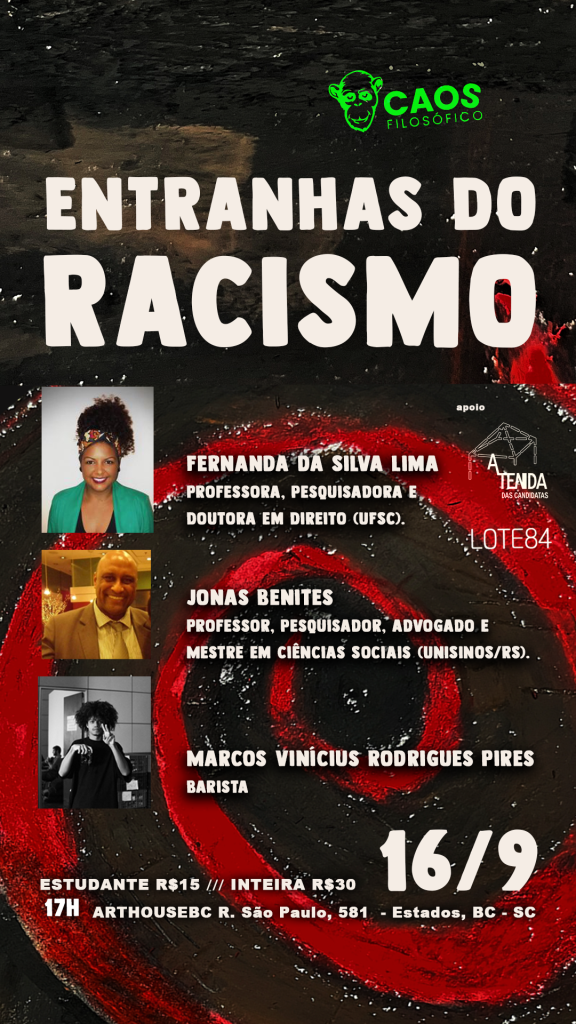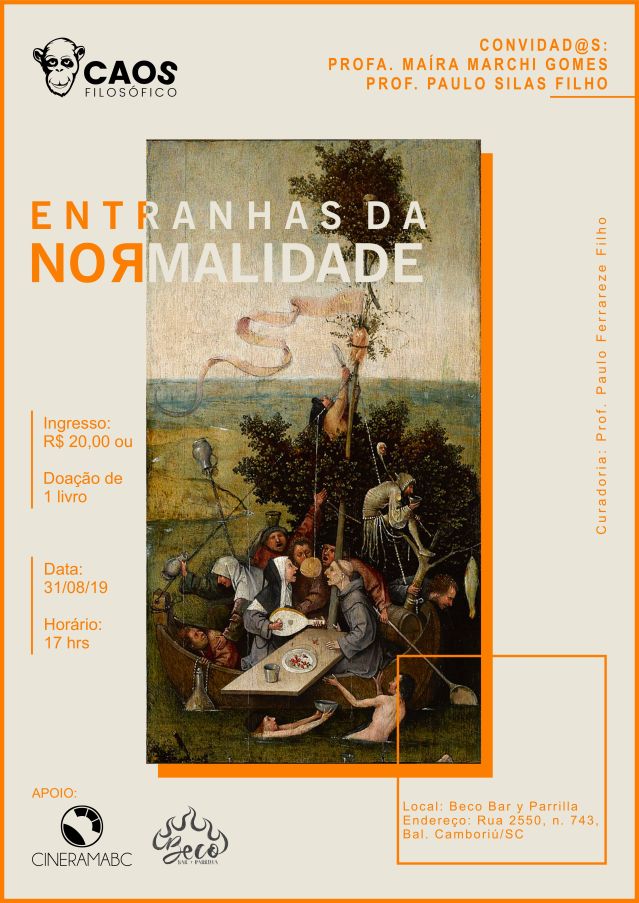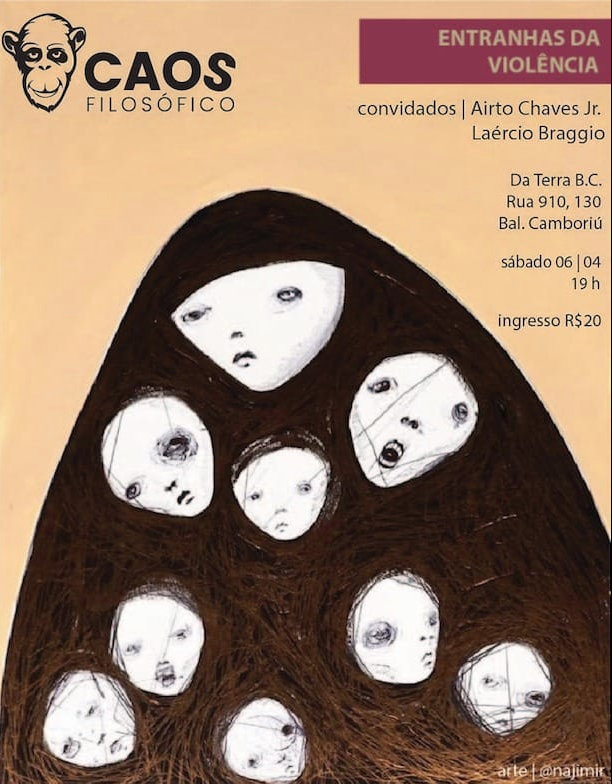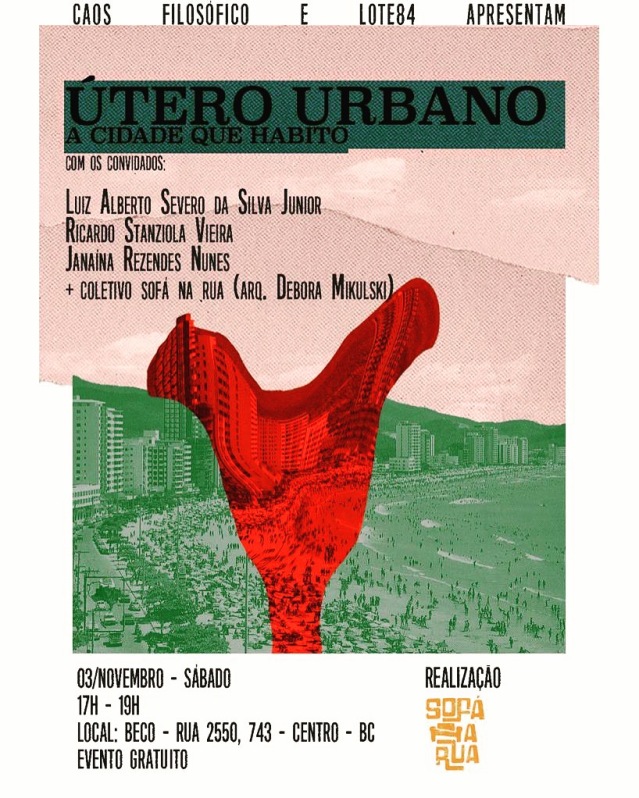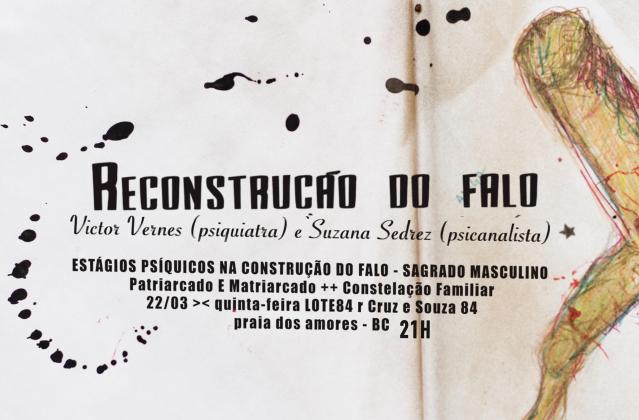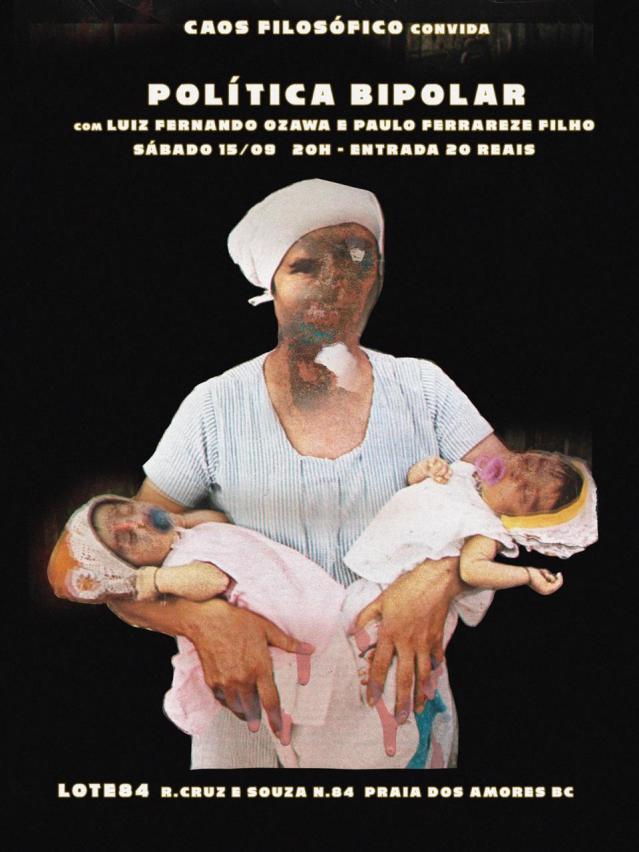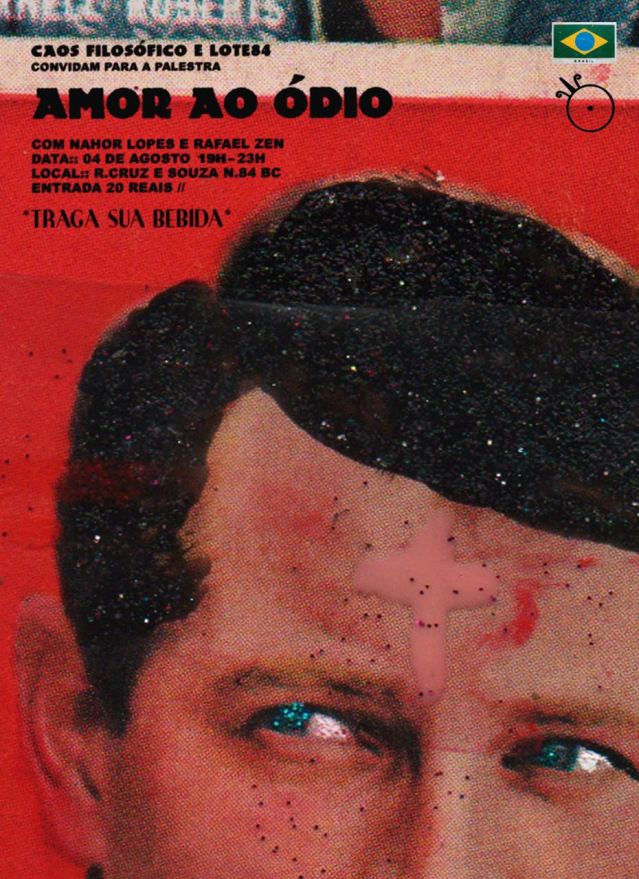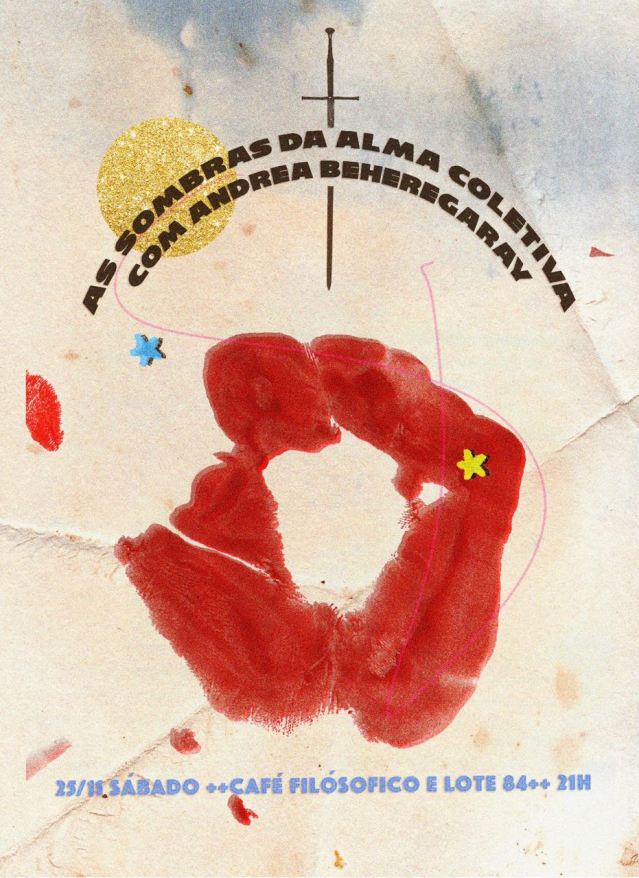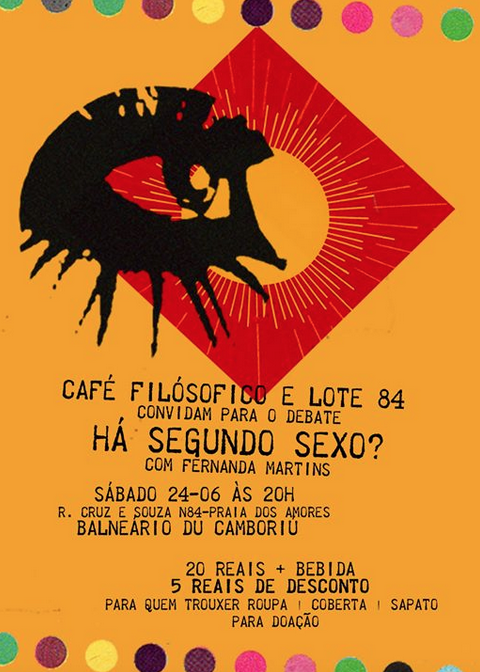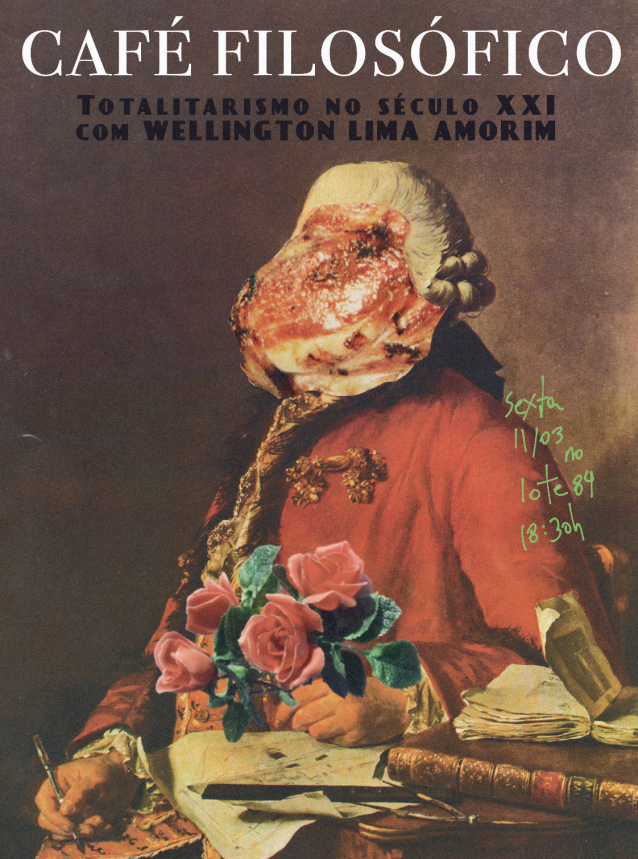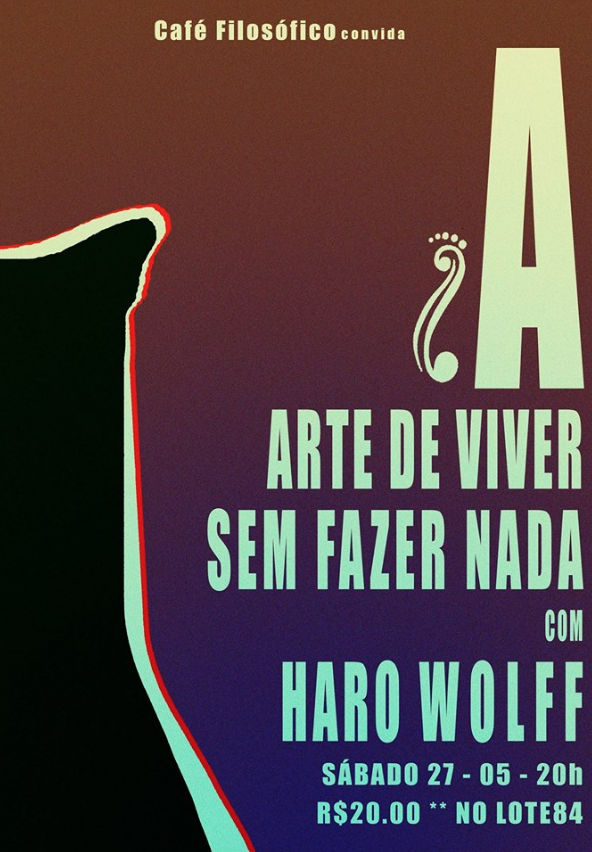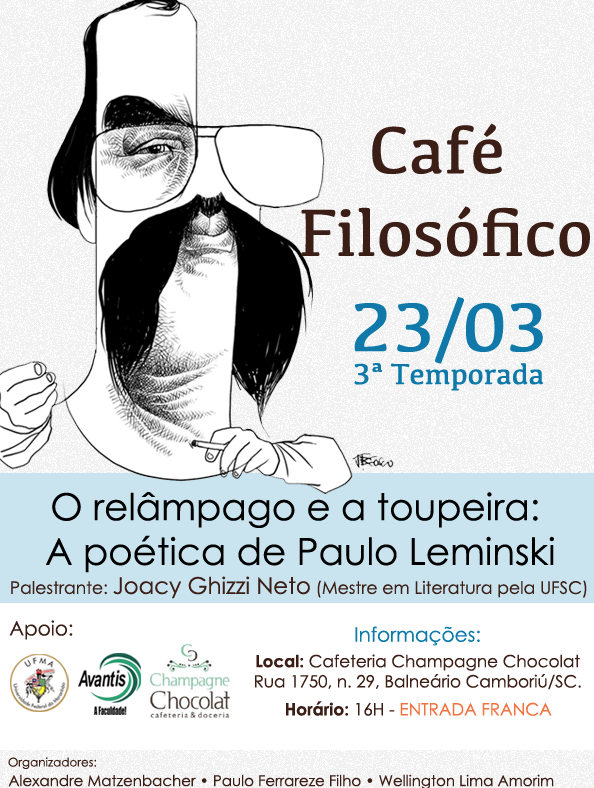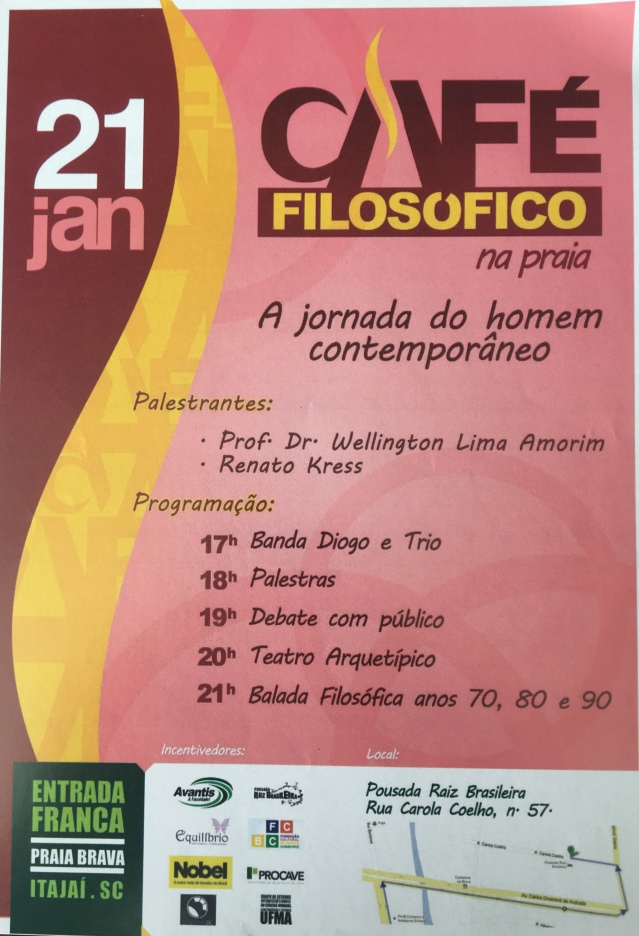por Felipe Eduardo Lázaro Braga

Se alguma das duas opiniões puder, melhor do que a outra, não ser meramente tolerada, mas sim ser encorajada e sustentada, é aquela que acontece estar num determinado tempo e lugar na posição de minoria. Esta é a opinião que representa, por algum tempo, os interesses negligenciados, o lado do bem-estar humano que corre o perigo de obter menos do que deveria ser a sua parte (MILL, 2010, p. 104)
Em 1859, John Stuart Mill, filósofo liberal, publicou uma defesa da ideia de liberdade com base em valores morais utilitaristas – ele próprio, um dos mais destacados pensadores do utilitarismo político. Se o livro coubesse numa frase, a linha-sinopse seria: a única justificativa moral possível para a liberdade é a maximização da utilidade. O texto se chama “Sobre a liberdade”[1].
Quase nenhum livro cabe numa frase. Alguns poucos livros, no entanto, não cabem num livro, são uma extensão necessária e bibliográfica de interpretações, que se multiplicam nos textos que os homenageiam e, especialmente, naqueles que os confrontam. A defesa utilitarista da ideia de liberdade tem repercussões sensíveis para a argumentação de matiz progressista, motivo pelo qual o texto de Mill ocupa uma prateleira no cânone do pensamento identitário. Prateleira bastante específica, no entanto: o livro que todos conhecem, mas cujo conhecimento transcende a leitura imediata do texto; o livro-pressuposto que ancora, filosófica e conceitualmente, os livros efetivamente citados e discutidos, responsável por assentar as bases morais subjacentes às lutas identitárias.
Livros ficam mais contemporâneos à medida em que envelhecem, se produzirem as ideias que o tempo exige. Qual é o ponto de intersecção entre o liberalismo do XIX, e o progressismo do XXI? Com base em sua interpretação utilitarista de liberdade, Mill resgatou o conceito de “diferença” daquele outro território ideológico, bem mais precário e acidentado, correspondente à noção de “tolerância”: se, em dada conjuntura histórica e diante de tal ou qual acomodação de forças, a diferença é meramente tolerada em razão dos custos sediciosos que sua superação provoca, a superação da diferença representa, ainda assim, a entrelinha de discurso que sustenta o enquadramento político e filosófico sobre o tema. A diferença, no plano retórico da tolerância, não é coexistência entre pares, mas armistício entre opositores; sua natureza, por definição, é um prazo. Seitas protestantes minoritárias não foram admitidas e estimuladas nas nações europeias de hegemonia católica, mas toleradas em uma circunstância histórica de desastre civil e esgotamento institucional em que a acomodação da diferença era o inevitável segundo melhor resultado possível, depois de todos os demais esforços de sujeição, mesmo aniquilação religiosa.
Mill, no inverso radical do problema, desenvolve a tese segundo a qual a diferença não é uma circunstância histórica francamente anômala a que se deve tolerar, à guisa de lamento pela uniformidade perdida e preferível. Antes, representa o mecanismo de progresso que confronta a passividade inerente às unanimidades. Ele não reconhece, nesse agente sociológico da mudança – a expressão usada no texto é “minoria” – um grupo promotor de instabilidade pública que, ao desafiar os pressupostos amplamente compartilhados de convivência, ameaçam, por conseguinte, a segurança sintônica de dada comunidade política. Esse temperamento inclinado à originalidade, ao contrário, seria o elemento social responsável por expandir as possibilidades existenciais humanas.
Por três razões.
A primeira, de natureza imediatamente individual: a autoria dos termos da própria existência representa, no âmbito do indivíduo, um fim em si mesmo, uma recompensa de autonomia que age de acordo com a legitimidade das próprias aspirações, parcialmente insatisfeitas com as soluções tradicionais e costumeiras que já não se ajustam perfeitamente às novas expectativas de realização e bem-estar de determinada fração de pessoas. Basicamente, ser criativo, ser diferente, são expansões de personalidade que recompensam a si mesmas, sem qualquer necessidade de justificativa que não seu mero exercício; momento intransitivo de protagonismo em que o sujeito dá um passo além de si. Aqui, há uma celebração moral de todas as qualidades que a originalidade pressupõe: de um lado, certa firmeza audaciosa de negar a uniformidade; de outro, a inteligência de reconhecer, nesse espaço que há entre a insatisfação e o costume, toda uma família de afirmações ainda não testadas.
Em segundo lugar, porque o alcance final da criatividade individual não é o indivíduo, mas o coletivo. A pátria geracional que enfrenta os mesmos problemas e aspirações numa classe razoavelmente próxima de incertezas, amplia o exercício da liberdade individual até o corpo comum de insatisfações, de modo que o primeiro a chegar na diferença é, antes de tudo, pioneiro de uma nova igualdade, numa inflexão argumentativa em que o outro é o sentido mais completo da ação. Essa ideia de que a mais alta realização do indivíduo não acontece no final da realização de si, mas alcança seu termo de força quando multiplica possibilidades no plural de um vir a ser coletivo, responsável por alargar as definições sociais de legitimidade, culmina na citação que se segue, uma das mais evocativas do texto: “há muito poucas pessoas, em comparação com o conjunto da humanidade, cujas experiências, se adotadas por outros, provavelmente trariam alguma melhora para costumes estabelecidos. Mas esses poucos são o sal da terra; sem eles, a vida humana se tornaria estagnada” (MILL, 2010, p. 128). Naturalmente, este ou aquele indivíduo pode se dar ao luxo de ser um pouco pior que Albert Einstein; “objetivo impessoal”, no entanto, é outra forma de localizar acima de si próprio a correnteza do próprio alcance, objetivo a que os grandes cérebros perseguem: “(…) Principal característica do meu próprio caráter: a capacidade de superar a mera existência, dedicando-se persistentemente ao melhor de sua própria capacidade para atingir um objetivo impessoal”[2]. Carta de 1954 ao filho Hans Einstein.
Por fim, Mill defende que a diferença não precisa ser premissa de igualdade; a diferença pode ser aquilo que ela é: discordância legítima, que preserva os termos de compromisso entre alteridades. Mais do que isso: a discordância, ela própria, cumpre um papel de maturação do debate público, ao demonstrar que o caminho que começa na certeza não necessariamente vai chegar na verdade; passa, antes, pelo ponto de vista, maneiras plurais de olhar os fatos da vida. Unanimidades, por outro lado, tendem à preguiça argumentativa, se suas certezas se mantiverem protegidas de confrontação – as pessoas perdem a vivência de suas verdades, se perderem a necessidade de defendê-las. O confronto qualificado, por outro lado – aquele em que a alteridade tem o mais pátrio direito de existir e discordar –, exige que as pessoas retornem aos fundamentos de suas certezas, impedindo-as de se cristalizarem, rígidas e inertes, em sentenças pré-arranjadas, repetidas até a banalidade; diferença, portanto, que se realiza na maturidade de discordar de outras diferenças.
(A anatomia da discordância tem na raiva um sintoma de frustração: frustração com a diferença que persiste/ vontade de ouvir a própria voz na voz de acordo dos demais. A conjunção entre tranquilidade e discordância é uma estrutura de sentimentos diversa, que admite a persistência da diferença como resultado possível, lícito e razoável, da altercação de ideias. A tranquilidade em discordar representa um tributo à diferença, premissa a partir da qual suprimir o outro não passa próximo de ser um objetivo).
Repare que, na formulação do autor, a antecedência filosófica que ampara o texto não é política; assume, antes, uma conotação que chega primeiro – e curiosamente – na estética: o indivíduo que alcança um sentido maior que si mesmo, que constrói uma barricada de personalidade à revelia do sentido comum, provoca, como primeira reação imediata e inevitável, não o endosso ou o rechaço ideológicos dos pares, mas uma reposta de desconcerto e estranhamento, que é matéria contemplativa antes de ser objeto político. Quando essa individualidade projeta para os outros novas sensações de possibilidade, novas fronteiras de amplitude e realização – toda novidade é, na véspera de se tornar sentido compartilhado, uma conquista de poucos, ou mesmo de um –, ela assume – argumento interessante – um motivo de beleza moral, um alívio subjetivo que demonstra, via alteridade, nossa capacidade de ser outra coisa além do esforço repetitivo do que já somos, a fração de existência que, naquilo que eu ainda posso ser, o outro já oferece. Essa sensação de estranhamento diante da diferença – legítima, antropológica sensação do outro –, tem dois componentes antagônicos e estéticos de realização: a repulsa e a curiosidade. A sensibilidade da repulsa, porém, não enxerga um fato, um sujeito de alteridade; enxerga, antes, o espaço de desconforto que há entre a diferença e a semelhança, sensação ensimesmada que, de antemão, condena a diferença a ser qualquer outra coisa além daquilo que ela é: falta, inadequação, insuficiência. O componente estético do medo do outro, esse embaraço reativo diante daquilo que não é familiar, é o contrário da curiosidade, sentimento que, esse sim, alcança a diferença nos seus próprios termos, e que projeta uma inclinação contemplativa análoga à idade de descoberta e entusiasmo pelo mundo; sensação extrovertida que converte a diferença em possibilidades: de endosso, ou de discordância. Cito novamente: “Não é reduzindo até a uniformidade tudo o que é individual em si, mas cultivando e impulsionando a individualidade, dentro dos limites impostos pelos direitos e interesses dos outros, que o ser humano se torna um nobre e belo objeto de contemplação” (MILL, 2010, p.126).
A diferença, a despeito de tudo isso, não necessariamente vai se realizar como mecanismo de progresso; ela pode ser, ao contrário, o próprio prejuízo do bem-estar comum: se cumpre uma natureza de pluralidade ou de hierarquia, ela é ponto de partida de diversidade ou ponto de chegada de autoritarismo, ambos legitimados pelo mesmo personagem – o indivíduo. Leia a citação abaixo, do mesmo autor/texto:
“Crueldade de disposição, malícia e natureza má, aquela mais antissocial das paixões, a inveja, dissimulação e insinceridade, irascibilidade por razões insuficientes, ressentimento desproporcional com a provocação, o amor de mandar nos outros, o desejo de obter mais do que a sua cota de vantagens (a palavra πλεονεξια dos gregos), o orgulho que obtém sua gratificação ao diminuir os outros, o egoísmo que faz alguém imaginar que ele mesmo e seus interesses são mais importantes do que tudo o mais, e decide todas as questões duvidosas a seu favor – esses são vícios morais, e formam um caráter mau e odioso.” (MILL, 2010, p.150)
O ideólogo da diferença não é ingênuo, pois. O autoritarismo da própria vontade, aquele que se realiza na supressão da vontade do outro, é a contraparte seca, desoladora, do culto ao indivíduo – culto à vontade primitiva, à realização plena dos impulsos de recompensa e hierarquia, em que todos os demais se transformam em apêndices de uma única satisfação dominadora e gratificada –, não tem outro nome senão violência. Supressão e indiferença do outro são as esferas de desconsideração política por excelência: enquanto alguns têm o privilégio de desenvolver as melhores potencialidades do próprio caráter, outros são condenados à alienação repetitiva e massificada, sem espaço para a manifestação criativa e individual (Marcuse: “A personalidade autônoma, no sentido de ‘unicidade’ criadora e plenitude existencial, sempre foi o privilégio de poucos” – 1968, p. 216[3]). O individualismo do próprio prazer, mais devastadora corrupção da personalidade, realiza um movimento centrípeto que extrai da comunidade tudo o que é passível de mérito e elogio, em direção ao centro do próprio interesse (a argumentação estética de Mill não pode ser tomada como colateral ou acessória: é preciso deixar claro que essa neurose de acumulação não é admirável, não é motivo de orgulho ou beleza; pelo contrário: é feio, é egoísta, é grotesco, se toca); a individualidade é o movimento contrário, centrífugo e oposto, que cria premissas a partir de um ponto irradiador – indivíduo, grupo, classe de pessoas, enfim: fração de diferença –, e as transforma em amplitude, coexistência e discordância. O mesmo personagem tem dois regimes de realização: enquanto que o exercício da individualidade – exercício de criação de diferença –, arquiteta um sistema necessário de interdependência – eu sou o que todos os outros contribuíram, e todos os outros são uma fração do meu próprio empenho –, o individualismo faz o caminho oposto, em que a diferença é mecanismo de demarcação de privilégio – exercício de criação de hierarquias. Contra essas modalidades de agressão ao regime de bem-estar comum, o nome da reação não é discordância, mas indignação – é possível discordar de um liberal ou progressista; não é possível discordar de um machista ou homofóbico, racista ou eco-assassino.
De modo que, se a barbárie tem um mérito, o mérito não é da barbárie: é dos outros que se unem contra ela, a despeito de discordâncias razoáveis.
FELIPE EDUARDO LÁZARO BRAGA é doutorando em Sociologia (USP)
[1] MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade. Trad. Ari R. Tank. São Paulo: Hedra, 2010.
[2] RODRÍGUEZ, Margaria. Albert Einstein: quem foram seus filhos, e o que aconteceu com eles?, 2021. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-56394224. Acesso em: 06 Jul. 2021.
[3] MARCUSE, Herbert. Eros e Civilização – Uma crítica filosófica do pensamento de Freud. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: ZAHAR Editores, 1968.
Categorias:ARTIGOS