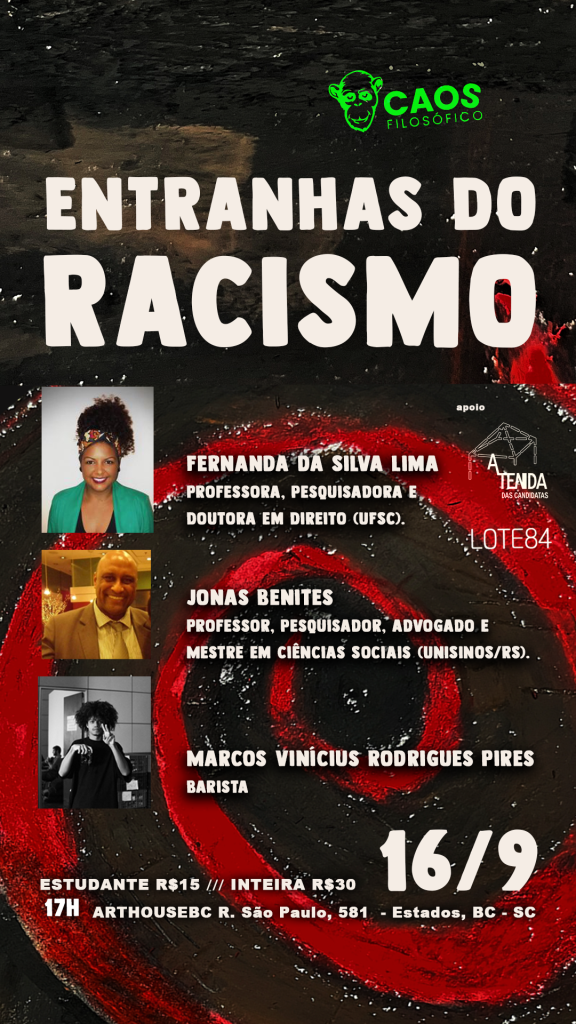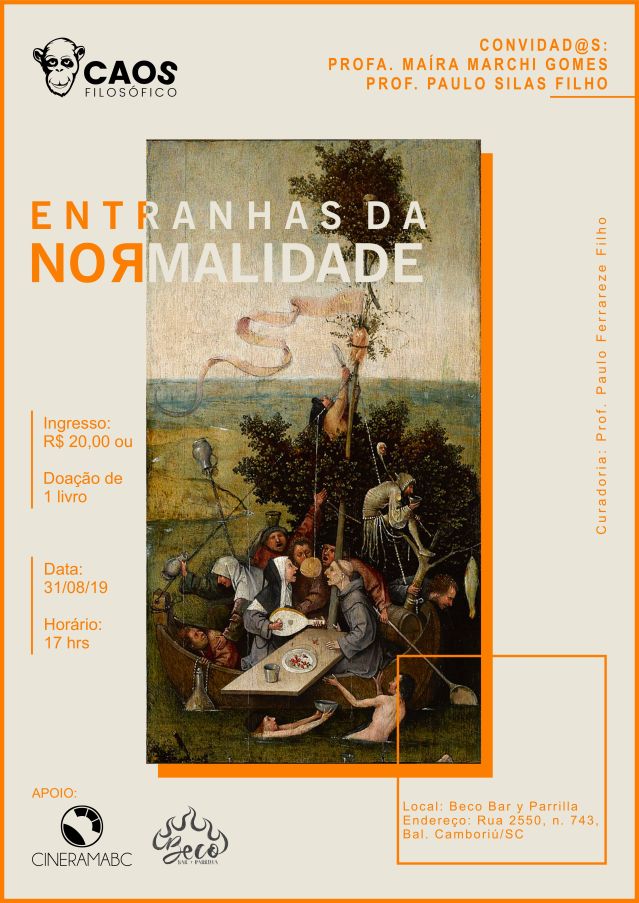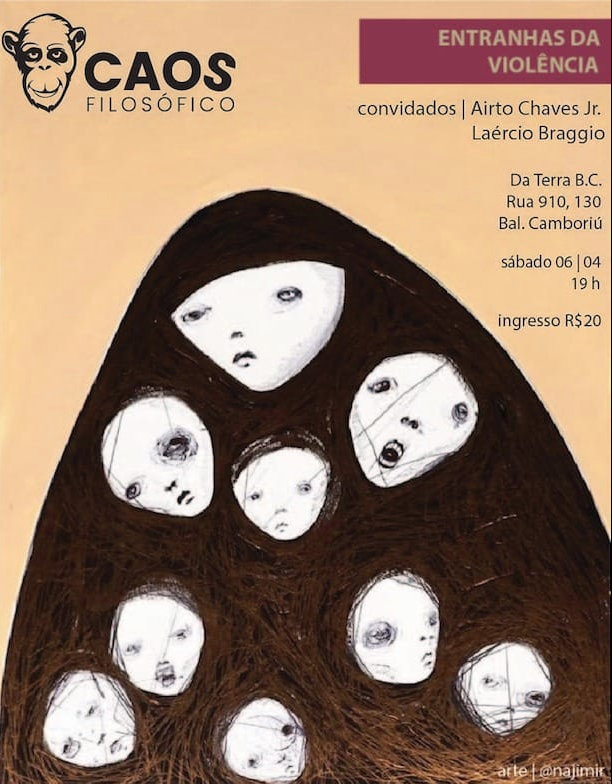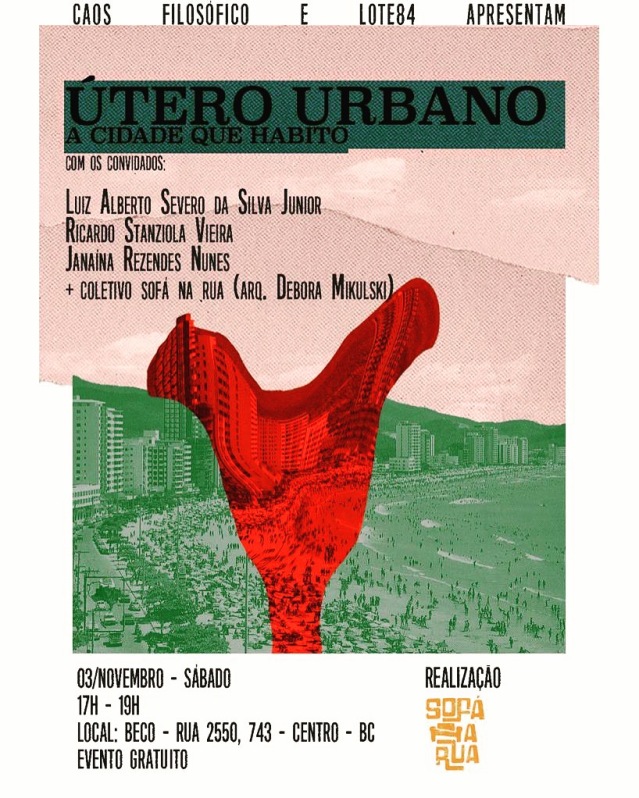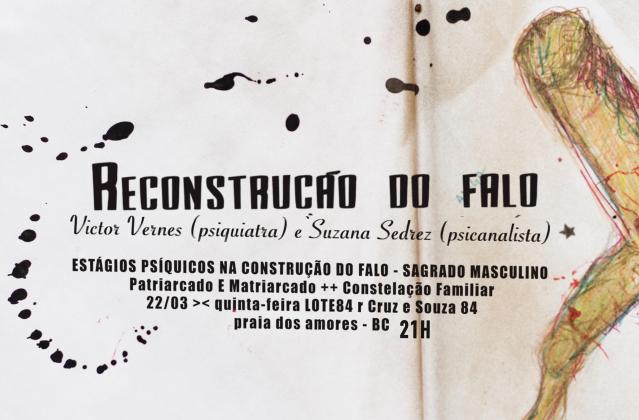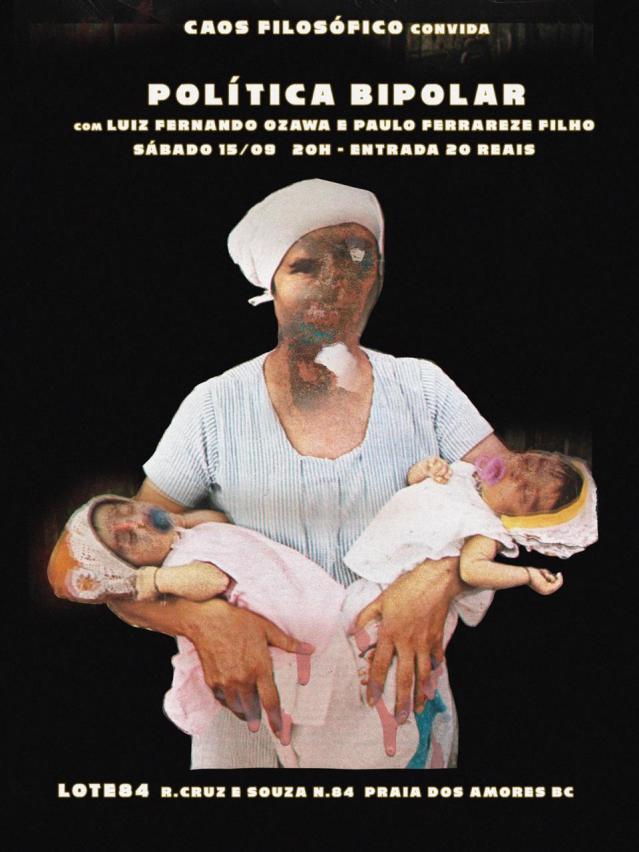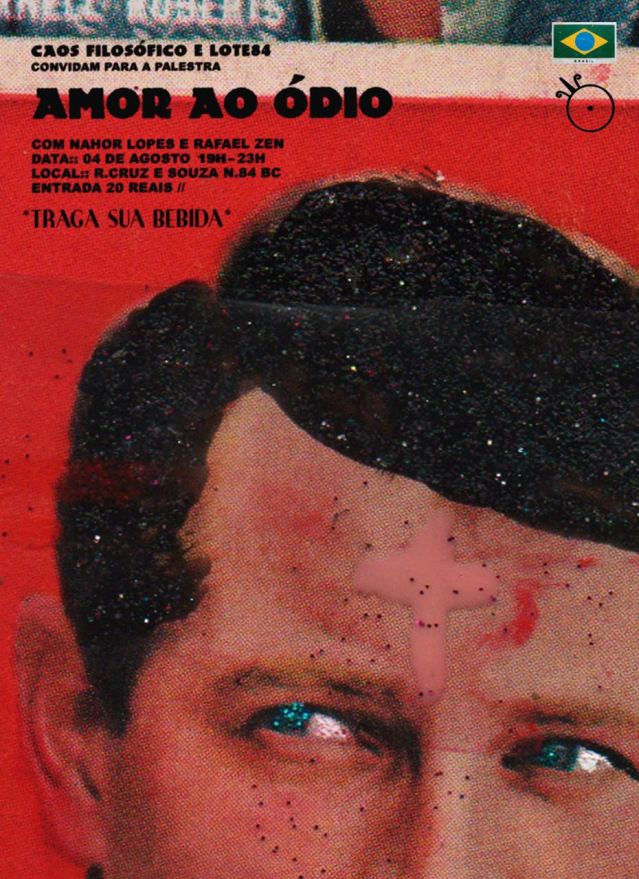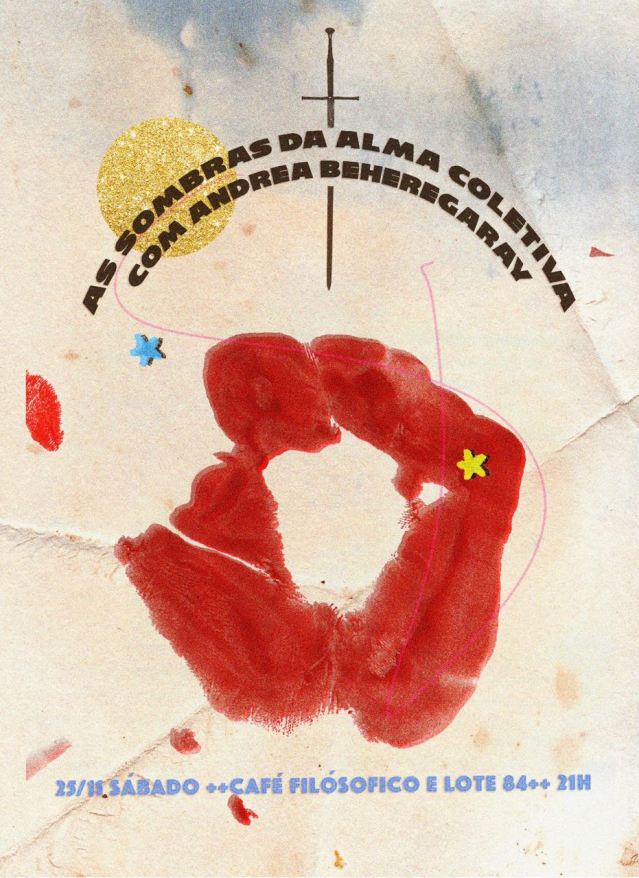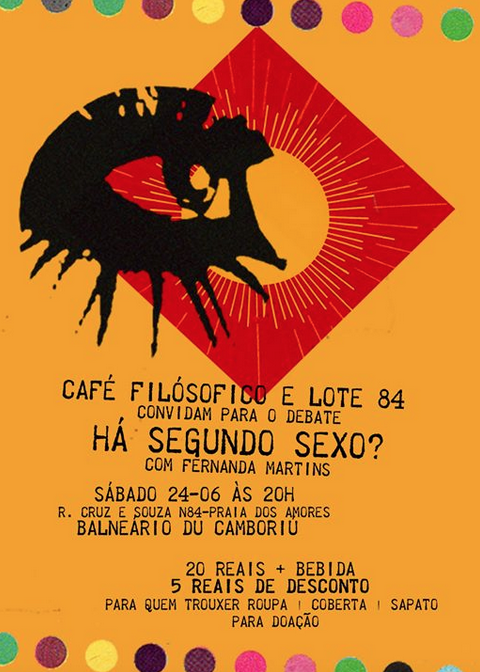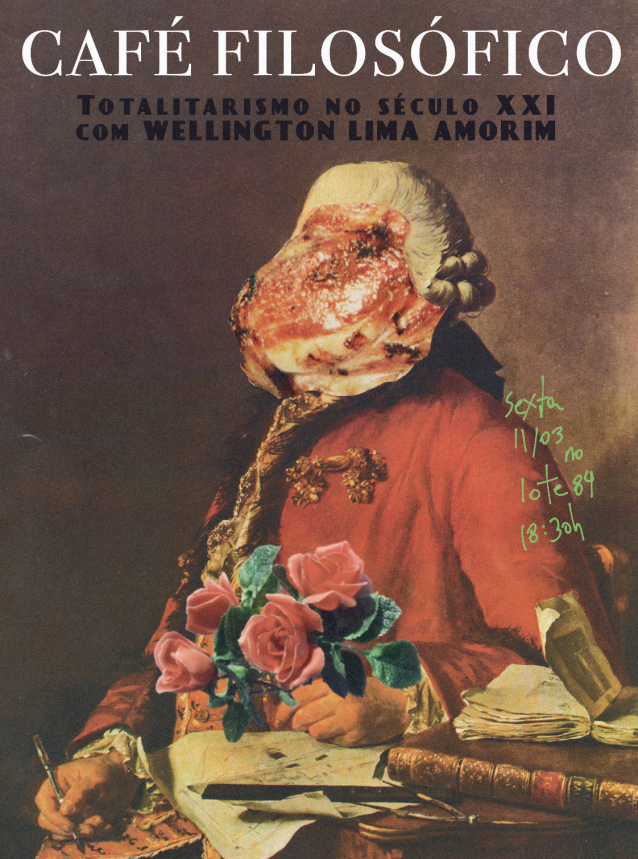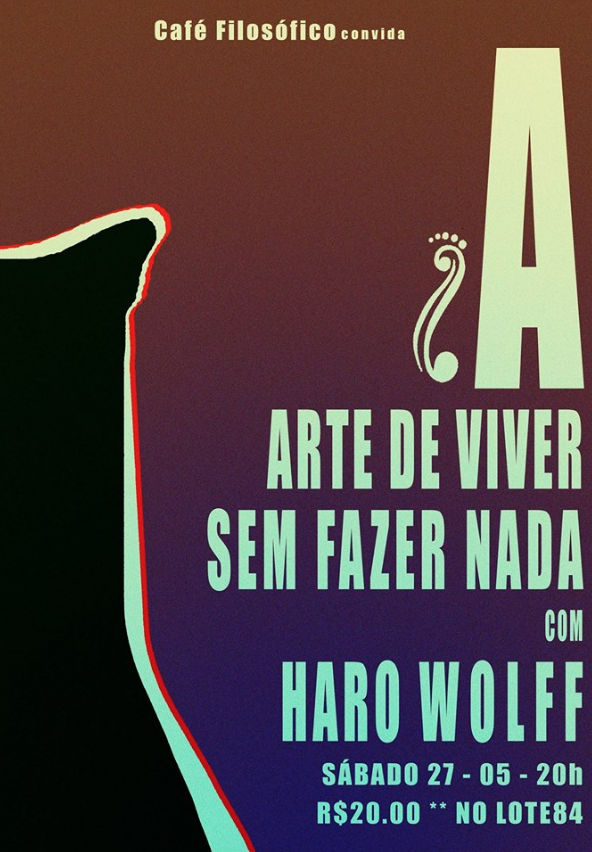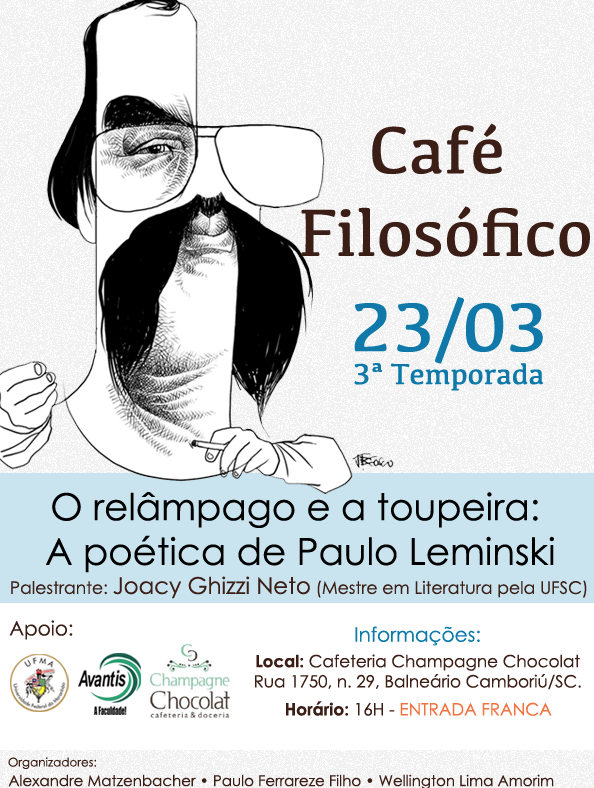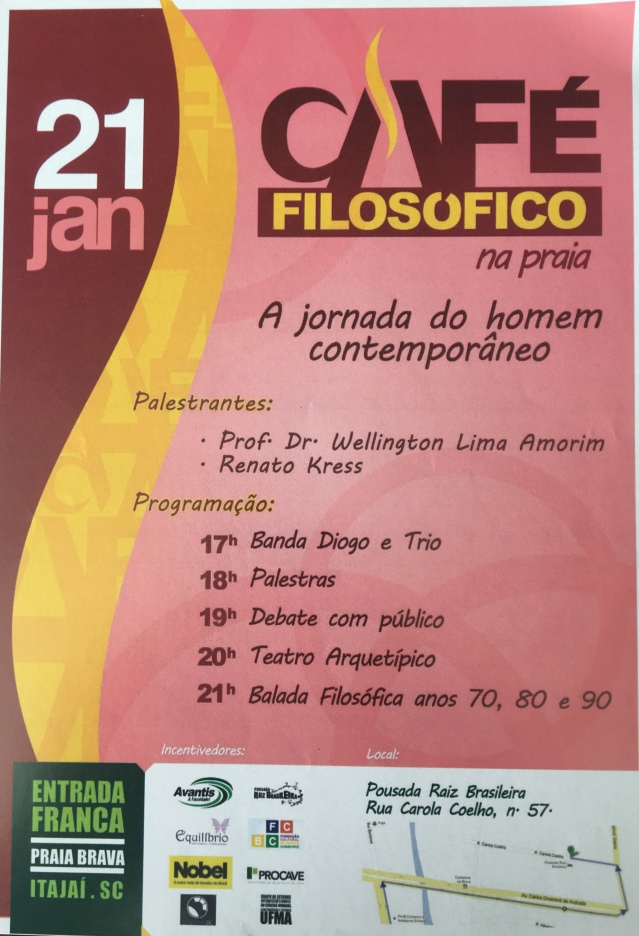Por Paulo Silas Filho

Dentre as contribuições que a literatura pode dar ao direito, a humanização é a que mais aparece na fala daqueles que se arriscam nessa relação interdisciplinar. Através da leitura de obras literárias (contos, crônicas, romances, poesia…), o operador do direito acabaria tendo contato com uma faceta da humanidade presente na literatura, dada a sua forma característica de dizer as coisas. Humanizando-se o jurista, estar-se-ia humanizando o direito, dando-se assim uma roupagem mais humana aos meandros jurídicos. Mas, afinal, o que significa humanizar o direito?
É possível humanizar o jurista? O profissional do direito, que sabe ler apenas os autos do processos sobre os quais se debruça nas causas em que assume – somado aos ementários, já que nos situados na era do Realismo Jurídico Tropical “em que a lógica que preside este modelo é a dos informativos etiquetados com as grifes com durabilidade efêmera” (ROSA, 2011, p. 101-102), bem como à dita letra fria da lei – pode realmente ser tocado pelo viés humanístico que se faz presente na literatura? Acaso o contato com os detalhes das coisas em geral, detalhes esses que se fazem presentes de modo significativo nas narrativas literárias, teria o condão de propiciar um viés mais ameno àquela estrutura intrincada que costuma caracterizar o jurista, ensejando assim num outro olhar sobre o mundo em geral – para além do mundo das leis, das resoluções, da jurisprudência?
Sabe-se que “a crença no potencial humanizador da literatura é recorrente” (OLIVEIRA, 2019, p. 178), estando presentes diversos fatores como justificadores para tal perspectiva. No âmbito do “movimento Direito & Literatura”, como dito, essa seja talvez a proposta que tenha mais ênfase nos entusiastas dessa relação entre saberes. A literatura teria muito a oferecer e a ensinar o direito – dizendo-se aqui, nesse ponto, mais especificamente ao recorte dessa intersecção que acabou sendo catalogado como “direito na literatura”, através do qual se teriam percepções obtidas pelo sujeito do direito advindas da literatura, pelo que “o jurista conhecedor da literatura seria íntimo com os problemas da alma humana” (GODOY, 2008, p. 10). Mas antes mesmo de se refletir sobre a possibilidade dessa aposta que se faz, talvez seja necessário definir o que se entende por ‘humanizar’.
A humanização da qual costuma se falar seria possível através da literatura. Daí a necessidade de se estabelecer quais seriam as benesses nesse sentido proporcionados pelos livros. Assim, dentre as formas presentes no campo literário a partir das quais se faz possível apreender o que envolve a humanidade com uma maior amplitude – beirando quiçá a plenitude -, o detalhe figura como o cerne pelo qual essa compreensão é possibilitada a partir da leitura. O detalhe sempre faz toda a diferença – e essa espécie de brocardo é significativamente presente na literatura.
Em defesa dos detalhes na escrita literária, pode-se dizer que “a literatura nos ensina a notar melhor a vida; praticamos isso na vida, o que nos faz, por sua vez, ler melhor o detalhe na literatura, o que, por sua vez, nos faz ler melhor a vida” (WOOD, 2017, p. 71). Uma coisa levaria a outra, portanto. Deste modo, aquilo que poderia passar de maneira imperceptível aos olhos do desatento (humanisticamente falando) jurista, acabaria sendo agora notado diante do exercício realizado das leituras de obras literárias. A literatura fomentaria o seu espírito humano, ensejando no enxergar do fato de que um processo lida com pessoas, com vidas e com emoções para além de números de autos, percentuais de honorários e tratativas formais entre aqueles que operacionalizam o direito posto em prática pelo seu processamento. Os detalhes da vida, captados pelo escritor e traduzidos para as linhas que compõem as obras literárias, resultariam nessa pretendida humanização.
Essa humanização ensejaria numa visão mais holística daquilo que circunda a vida, o universo e todas as coisa mais (parafraseando Douglas Adams), ou seja, não acaba por tornar ninguém necessariamente melhor ou pior – do tipo bom ou ruim, até mesmo porque a questão, se assim fosse defendido, ganharia outros contornos ainda mais profundos. Mais humano, apenas – o que quer seja isso signifique. Uma visão mais atenta, mais abrangente, mais crítica – sem dúvidas. Uma leitura de humanização nesse sentido, para além de outros possíveis, é plenamente aceitável e correta. Com isso, o leitor passa a ver as coisas, quaisquer sejam elas, muitas vezes com uma reflexão de fundo presente. Para o bem e para o mal, com ou sem acerto. Sendo um dito operador do direito nesse caso, esse estado de ver as coisas com outros olhos acabaria se fazendo presente na sua atuação jurisdicional.
Hugh Laurie, em seu romance “O Vendedor de Armas”, narra uma cena em que o protagonista da história, o Sr. Lang, encontra-se com um amigo advogado. Durante a conversa entre os personagens, o advogado é questionado sobre como teria conseguido livrar um cliente que se sabia culpado por ter matado o próprio sobrinho, assim sendo encerrado o diálogo: “”Menti pra caralho”, ele respondeu. “O que você vai comer?” (LAURIE, 2010. p. 41). A partir desse trecho exposto, contextualizado na obra em que está inserido, seria possível ao leitor, por exemplo, passar a refletir acerca de posturas possíveis em atuações profissionais jurídicas e suas implicações morais (ou também propriamente jurídicas), ou ainda o modo com o qual cada profissional enxerga e lida com situações nas quais se depara em seu ofício. Essa é uma leitura possível de se realizar, uma vez que “obras de ficção abordam realidades e criticam instituições também por meio da imaginação topográfica e da descrição de lugares, viajantes e costumes” (GODOY, 2008, p. 11). Enfim, leituras e leituras são possíveis dentro do recorte do qual aqui se diz na busca pelo humanização do jurista.
Essa humanização se constituiria a partir daquilo que está escrito nas obras literárias. A forma com a qual a história é contada, portanto, possui grande importância para tanto. Aí entra a questão da narrativa. Pode-se dizer que “a narrativa é ao mesmo tempo um baile de máscaras e um caminho de libertação” (MONTERO, 2016, p. 168). Baile de máscaras por possibilitar o disfarce da intimidade do escritor com a desculpa da ficcionalidade. Caminho de libertação por toda a dificuldade e angústia inerentes de qualquer caminho que conduz à liberdade – e escrever é uma forma de se libertar. Isso acaba sendo transposto ao leitor, que absorve essa “mensagem” pelo exercício da leitura da obra. Intimidade que pode ser desvelada e angústia existencial refletidas pelo jurista leitor (de literatura), cujo escopo disso tudo acaba se dando na humanização como resultado desse fenômeno. E que não se diga que haveria aí alguma forma de incompatibilidade pelo fato de a literatura se amparar no ficcional enquanto o direito se embasaria na realidade (dada a impossibilidade de se abranger o Real), pois, por mais que existam as diferenças que merecem apontamento, ambas se situam no ficcional, já que “no processo, as narrativas são sempre ficcionais”, ou seja, “as narrativas processuais […] são “ficções baseadas em fatos reais”” (FERRAREZE FILHO, 2018, p. 28-29).
Diante do que brevemente aqui resta exposto, pergunta-se: é possível humanizar o jurista através da literatura? É a aposta que se faz – ressalvada a necessidade de se estabelecer o que se entende por ‘humanizar’.
Talvez os livros de literatura possam ensinar aos ditos operadores do direito algo além da qualidade de se fazer um bom nó de gravata, deixando-a numa altura ideal que não cause estranheza aos outros, a fim de se estar apresentável para a defesa, ataque ou julgamento de um caso em que os fatos narrados nos autos, a legislação aplicável, a corrente doutrinária que sustente o argumento e a jurisprudência majoritária estejam na ponta da língua, mas que ausente o viés humano que ali deveria imperar. Talvez, pela literatura, permaneçam burocratas legais, mas ao menos poderiam se tornar mais afáveis.
PAULO SILAS FILHO é advogado, professor de Processo Penal (UnC) e mestre em Direito (UNINTER/PR)
REFERÊNCIAS
FERRAREZE FILHO, Paulo. Decisão Judicial no Brasil: narratividade, normatividade e subjetividade. Florianópolis: EMais, 2018.
GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito & Literatura: ensaio de síntese teórica. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008.
LAURIE, Hugh. O Vendedor de Armas. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2010.
MONTERO, Rosa. A Louca da Casa. 2ª Ed. Rio de Janeiro: HarperCollins Brasil, 2016.
OLIVEIRA, Amanda Muniz. “Law and Literature” e “Direito e Literatura”: estudo comparativo entre a produção acadêmica do movimento nos Estados Unidos e no Brasil. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2019.
ROSA, Alexandre Morais da. Garantismo Jurídico e Controle de Constitucionalidade Material: aportes hermenêuticos. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
WOOD, James. Como Funciona a Ficção. São Paulo: SESI-SP Editora, 2017.
Categorias:Sem categoria