Por Maíra Marchi Gomes

A normalidade não é um conceito que possa ser operado sem ser relativizado. Chamar por “normal” um evento ou um sujeito depende do local e do tempo em que nos encontramos; melhor dizendo, “normalidade” é uma noção localizada espaço-temporalmente. Além disso, os critérios utilizados para se avaliar por “normal” ou “anormal” dependem sempre de opções filosóficas e ideológicas do “avaliador” (que somos nós, muitas vezes inclusive não em contextos profissionais. Enfim, os julgadores/avaliadores do dia-a-dia…).
Também se pode considerar que os critérios utilizados nas avaliações tanto leigas quanto profissionais são influenciados por fatores pragmáticos. Por exemplo, as atribuições de dada profissão exigem-nos, ou pelo menos não nos obrigam, a utilizar determinados parâmetros e não outros em nossa análise da (a)normalidade de determinado comportamento, pensamento, sentimento, etc. Algumas atribuições profissionais podem (deveriam?), inclusive, impedir certos profissionais de avaliar sujeitos e situações como “normais” ou “anormais”.
Nesta mesma direção é que também se pode incluir, na discussão destes fatores pragmáticos, a intenção que um sujeito tem ao argumentar que alguém/uma situação é (a)normal. Perceba-se, nesta direção, o ganho subjetivo que alguns buscam ter ao se pronunciarem como entendedores de certo assunto, ao ponto de se autorizar a denominar por normal ou anormal algum evento ou sujeito. A propósito, estes ganhos subjetivos, tão singulares quanto surpreendentes, são os únicos que explicam como alguns sujeitos se bastam, na tentativa de compreender algo ou alguém, com conclusões do tipo “é normal” e “é anormal”.
São estes ganhos subjetivos que nos auxiliam a pensar em como é possível que ginecologistas autorizem-se a diagnosticar depressão, ortopedista a diagnosticar ansiedade, pediatra a diagnosticar transtorno de déficit de atenção, assistente social a atestar que um sujeito tem ou não condições psíquicas para adotar uma criança/adolescente. Realmente é prazeroso encontrar a anormalidade no outro, porque assim podemos nos imaginar na outra ponta da balança, sentados em nossa presunçosa normalidade.
Estes mesmos ganhos subjetivos é que podem explicar como alguns operadores do Direito autorizam-se a estabelecer considerações sobre normalidade fundamentando-se em construções, por exemplo, do campo da saúde mental sem recorrerem a qualquer posicionamento técnico-teórico de profissionais da área. Veja-se, daí, a criatividade com que discutem a inimputabilidade ou imputabilidade, o conceito de personalidade na dosimetria da pena, a maneira sempre imprevisível com que se referem à dano psicológico na justiça criminal ou trabalhista, ou mesmo como compreendem a noção de dano moral. E, por fim, a liberdade com que questionam com seus próprios argumentos a validade de avaliações psicológicas nas ações que tramitam na vara de fazenda pública.
Este escrito propõe-se, nesta direção, a simplesmente colocar em dúvida esta facilidade de se atestar alguém como “normal” ou “anormal”. Quanto aos critérios de normalidade, dependem do parâmetro utilizado. A este respeito, sabe-se que se pode orientar por alguns parâmetros para se definir por normal ou anormal algo ou alguém. Dentre eles:
AUSÊNCIA DE DOENÇA: saudável seria aquele que não apresenta sinais ou sintomas e, por consequência, que não apresentaria um conjunto de signos indicativos de um quadro que convencionalmente caracterizaria determinada doença. observe-se que aqui não se define o que é normalidade; ou, pelo menos, define-se-á apenas pelo seu negativo. Em outros termos, delimita-se o que não é normal.
NORMALIDADE “IDEAL”: saudável seria aquele que atende critérios socioculturais e ideológicos arbitrariamente impostos, que via de regra tratam de uma concepção abstrata do que seja normalidade. A normalidade, então, não seria encontrada em ninguém; apenas seria um meta que deveria ser buscada por todos. Sobre este aspecto, cabe mencionar a importância de não sermos ingênuos perante as motivações político, econômicas, históricas e subjetivas de alguns critérios do que seja um comportamento, um pensamento, um sentimento saudáveis.
NORMALIDADE ESTATÍSTICA: saudável seria aquilo que se observa com maior frequência. Esta concepção de normalidade é mais indicada a fenômenos quantitativos, ou pelo menos com o devido cuidado de se interpretar os dados como sendo apenas isto: números que dizem de uma maioria, cuja interpretação demandaria um debruço sobre a singularidade. Aplicada por exemplo para se conceituar o que seria normalidade mental e comportamental, mostra-se ainda mais problemática ou no mínimo limitada.
Resta a questão: o que fazer com quem fica na cauda? Afinal, toda curva estatística tem seus fora da curva, à esquerda e à direta. Seus mais e menos, em outros termos. E nestas curvas ascendente e descendente há sujeitos. Sujeitos que não podem ser excluídos.
NORMALIDADE COMO LIBERDADE: no caso da saúde mental, a normalidade estaria vinculada às possibilidades de transitar no cotidiano pelos espaços, bem como de ser tão autônomo quanto é possível a um humano (o que é pouco, convenhamos nós, que acreditamos em inconsciente, mas que é um mínimo que nos exige reconhecer que sempre tomamos decisões frente à margem de escolha que nos é oferecida). Os masoquistas têm especial dificuldade em serem considerados saudáveis caso nos dirijamos por este modelo, ou as mulheres que não desejam romper situações de violência doméstica.
NORMALIDADE FUNCIONAL: a anormalidade seria o pensamento, sentimento e comportamento que provoca sofrimento ao sujeito e ao seu círculo de relações. Esta noção possibilita refletirmos, por exemplo, sobre nosso direito de ambicionar acabar com o surto psicótico de alguém, posto que ele não necessariamente sofre neste estado. E, também, permite pensarmos sobre se devemos ou não nos preocupar em não causar mal a determinadas pessoas de nosso círculo.
Antes disto, ainda, a questionar o que seria “causar mal” ao outro. Nem que seja para entendermos que um sádico pode ser entendido como saudável, a depender de nossos critérios de normalidade, bem como para admitirmos que uma rebelião adolescente perante a família pode ser não apenas legítima, como aliás ser a saída para manter a saúde mental. E, por fim, que denunciar algumas hipocrisias e sacanagens nos ambientes familiares e profissionais pode ser um indício de saúde mental.
NORMALIDADE COMO BEM-ESTAR: preconizada pela Organização Mundial de Saúde. Se é difícil ser precisada conceitualmente, haja vista demandar considerações sobre a singularidade, parece ser a mais condizente com fenômenos humanos.
No campo da normalidade mental, cabe afirmar que para a Organização Mundial de Saúde não há definição “oficial” de saúde mental. A própria OMS considera que as diferenças culturais, os julgamentos subjetivos do avaliador (leigo ou profissional) e as diferentes teorias (no caso de avaliações profissionais) interferem na construção desta definição. De qualquer modo, pode-se dizer que saúde mental refere-se ao nível de qualidade de vida cognitiva, emocional e social.
Além disto, saúde mental pode tratar da capacidade de se satisfazer com a vida e de alcançar a resiliência psicológica. Quanto à resiliência, é um conceito emprestado da Física, definido como a capacidade de superar ou resistir a situações adversas, de modo a não entrar em colapso mental.
Em linhas gerais, se o sujeito não estiver sofrendo, ou colocando terceiros em risco, ele está normal. Vejam que em nenhuma destas circunstâncias é o avaliador, leigo ou profissional, que estabelecerá se alguém está normal ou não. Se um comportamento é normal ou anormal. Se o que se sente ou pensa é ou não normal. Portanto, a primeira orientação a quem se propõe a estabelecer por normal ou anormal um evento ou um sujeito, é escutar.
Poder-se-ia aqui iniciar iniciar uma discussão a respeito de quanto só nos é possível escutar se nos escutarmos. Em outros termos, de como nossas surdezes são relacionadas à nossa impossibilidade de admitir como nosso aquilo que é nosso, e de reconhecer como alheio aquilo que é do outro e não é nosso. Isto é deveras difícil, como explicam Martini e Coelho Júnior (2010). Frequentemente confundimos o que está dentro e fora, e, na melhor das hipóteses, sofremos por isto. A obra em questão é ainda mais indicada para pensarmos sobre isto, posto que sinaliza os mecanismos que nos fazem estabelecer fetiches e eleger e apreender relíquias. Talvez haja um certo fetiche, em alguns profissionais, pelo “anormal”, cujo estatuto é o de relíquia. Eles poderiam se perguntar se não podem trabalhar sem este penduricalho na ponta da língua e no fundo do olho que é “a anormalidade”.
MAÍRA MARCHI GOMES é psicóloga na Polícia Civil de Santa Catarina e doutora em Psicologia pela UFSC.
REFERÊNCIAS
Bock, A.M.B.; Furtado,O.; Teixeira, M de L.T. Psicologias: uma introdução ao estudo da Psicologia. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
_______. Psicologia fácil. São Paulo: Saraiva, 2011.
Martini, André de, & Coelho Junior, Nelson Ernesto. (2010). Novas notas sobre “O estranho”. Tempo psicanalitico, 42(2), 371-402. Recuperado em 29 de julho de 2019, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-48382010000200006&lng=pt&tlng=pt.
Goffman, E. Estigma. La identidade deteriorada. 5. ed. Buenos Aires: Amorrortu, 1993.
Categorias:Sem categoria


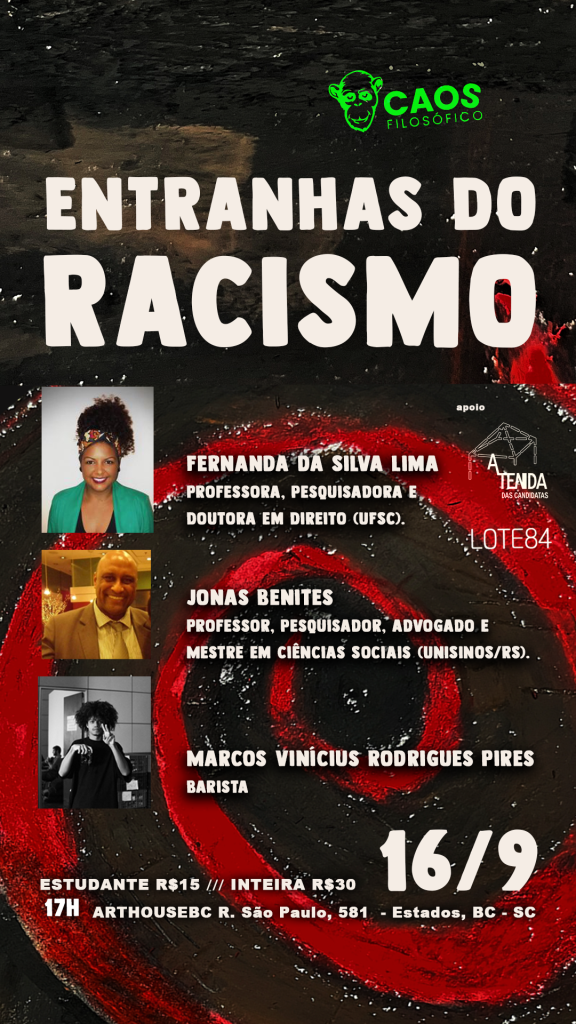



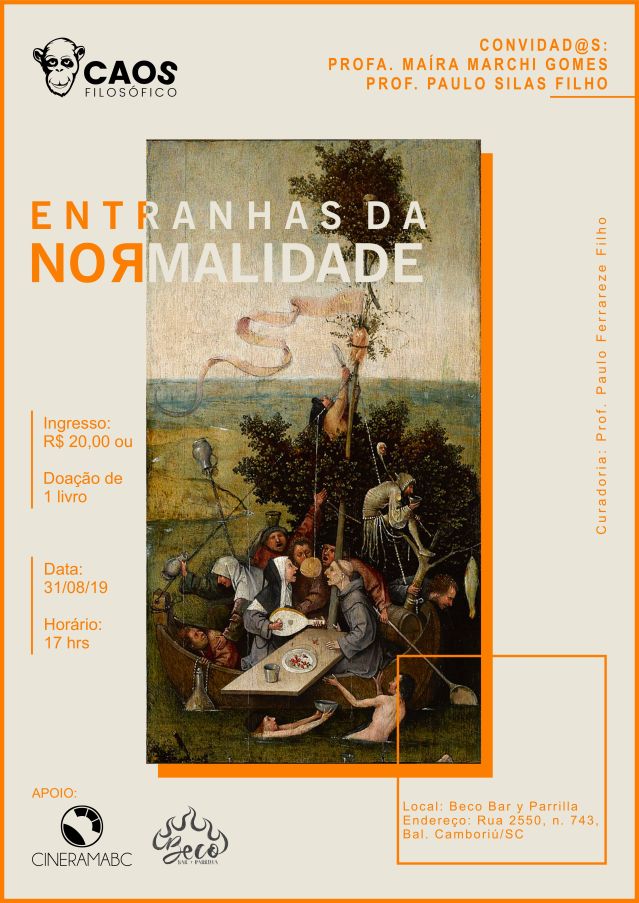

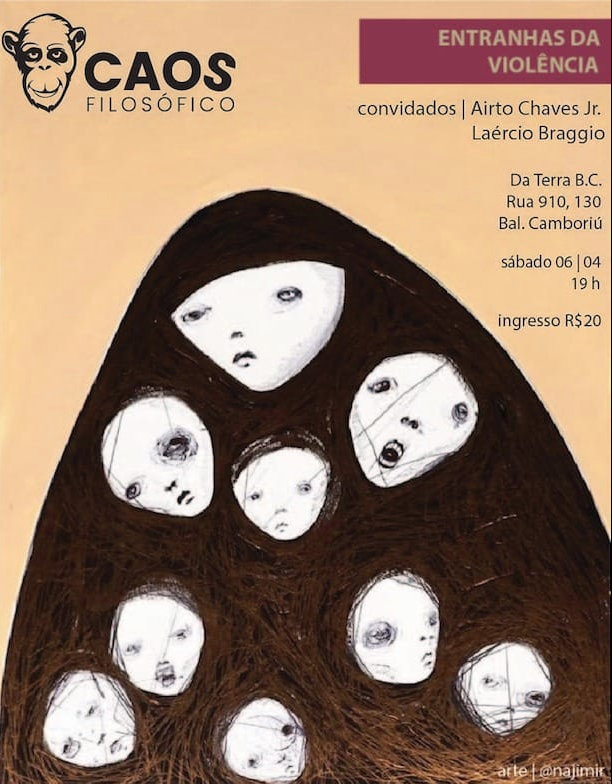
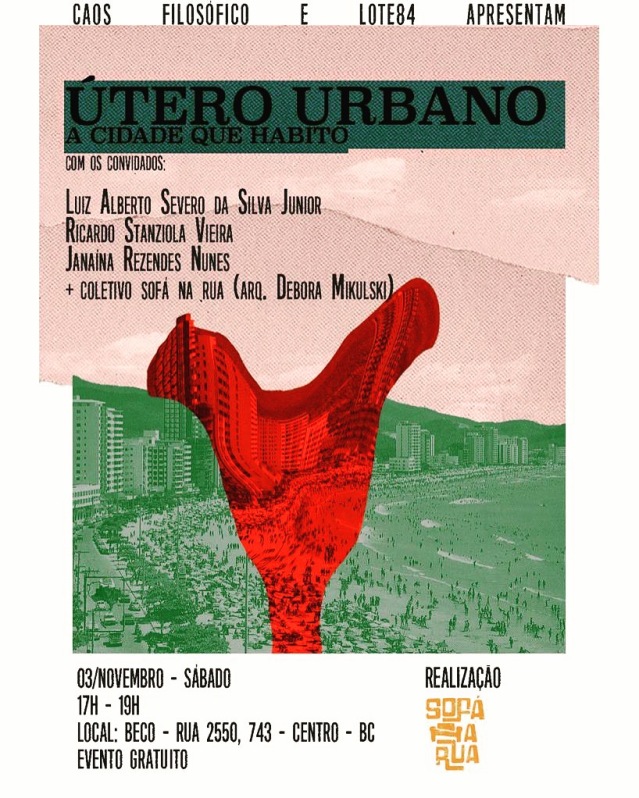
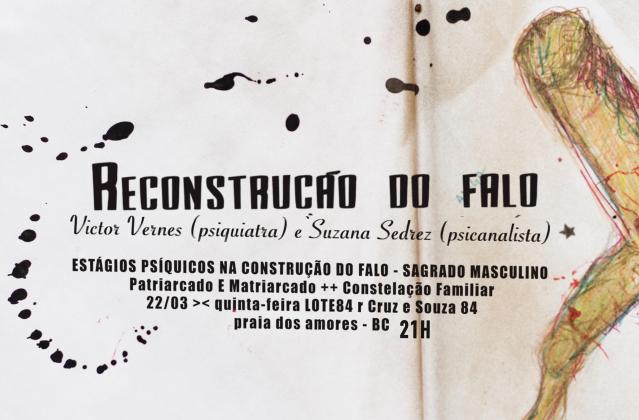

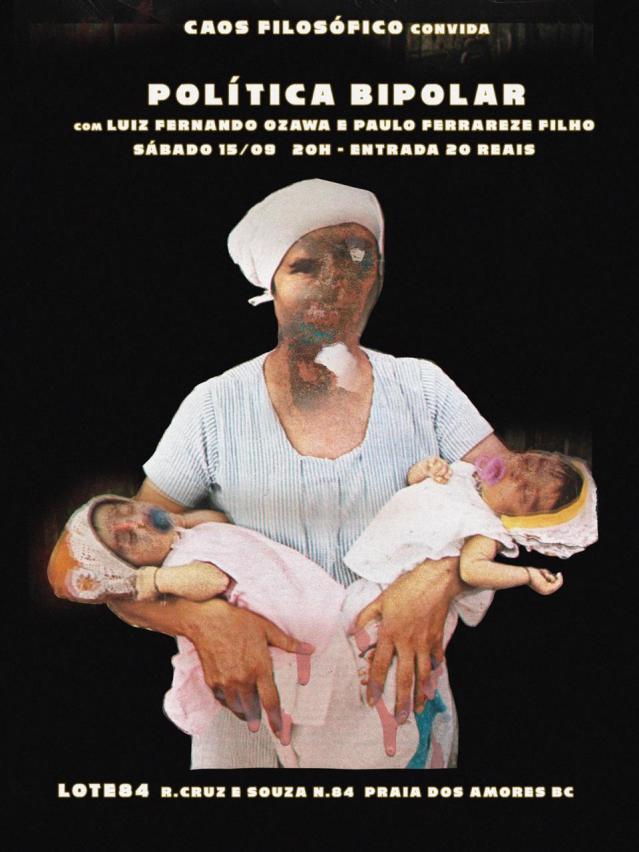
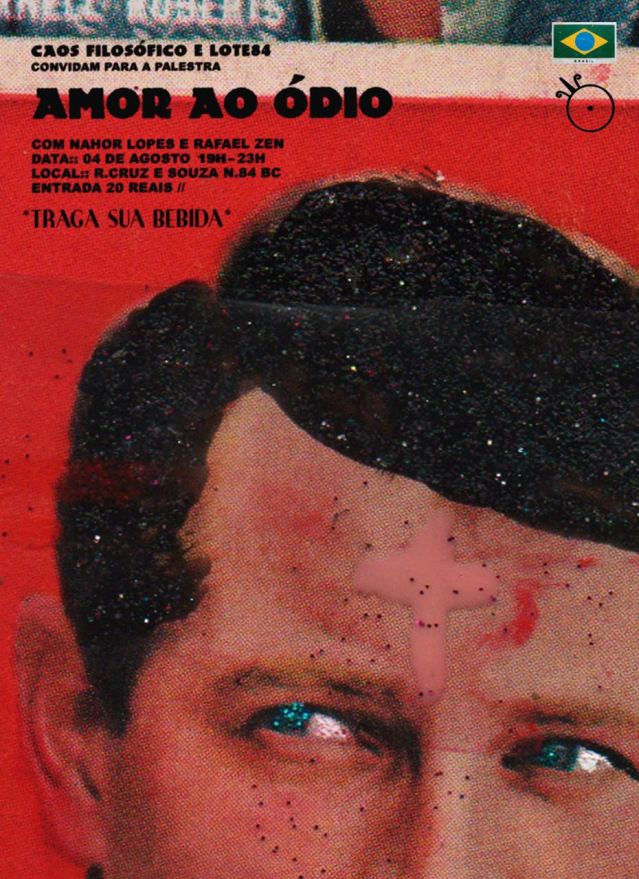
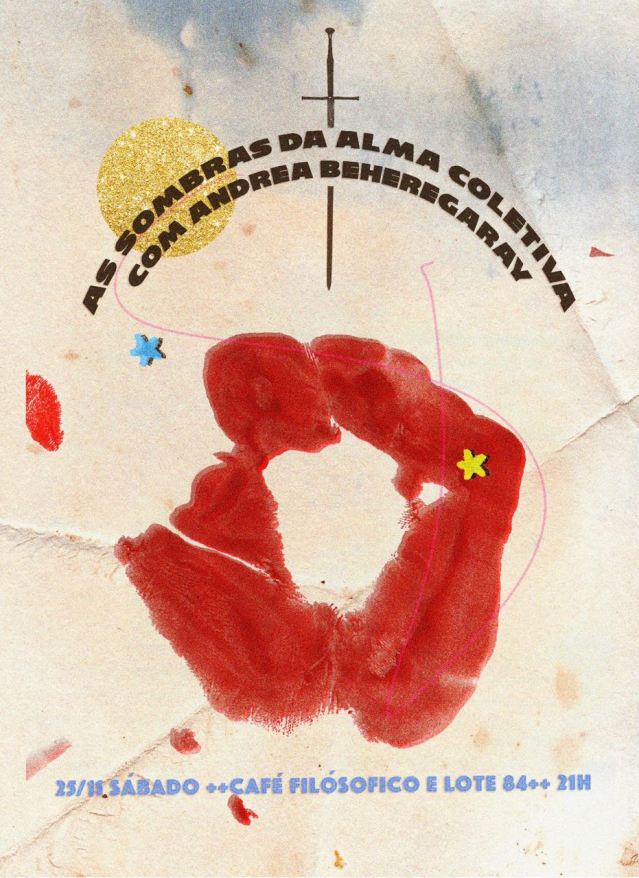

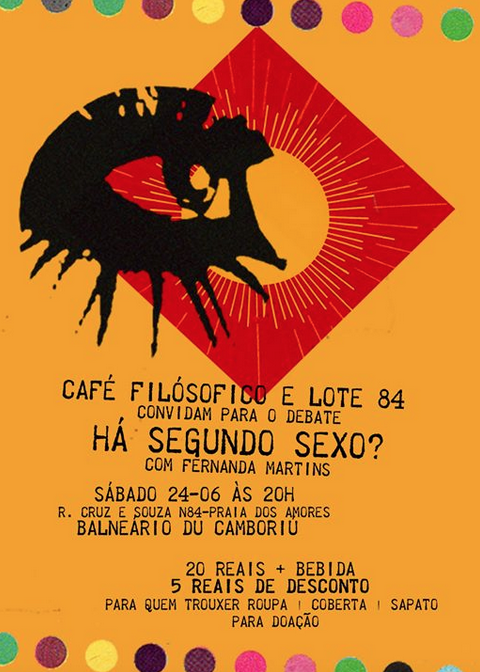

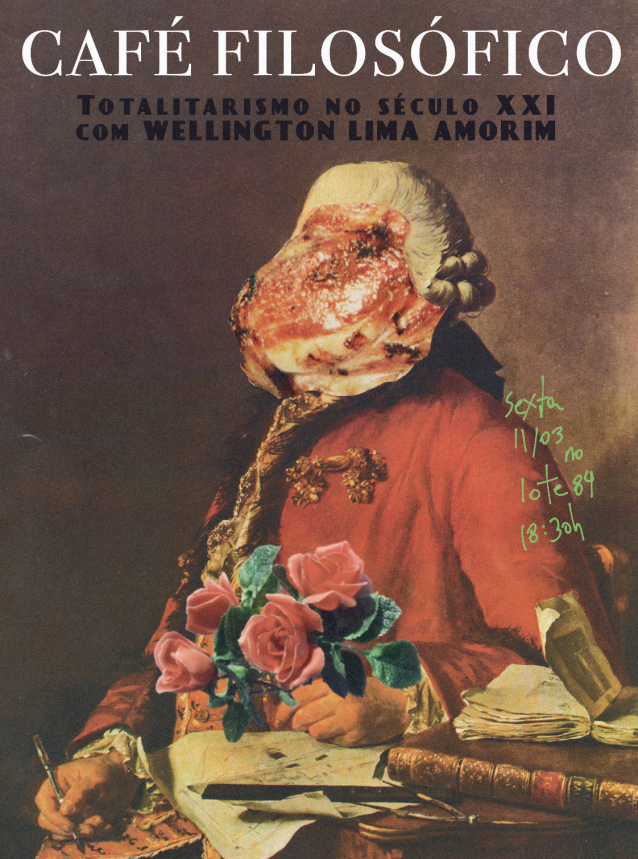

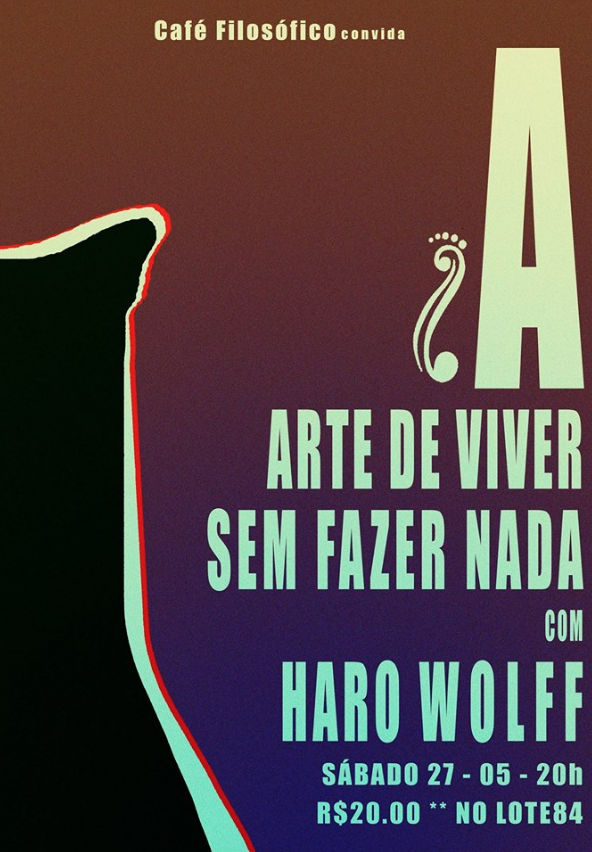

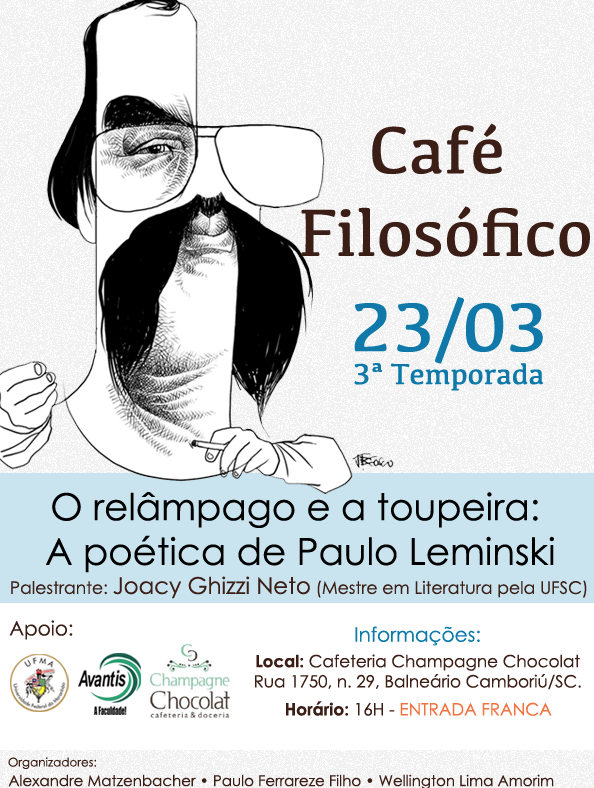





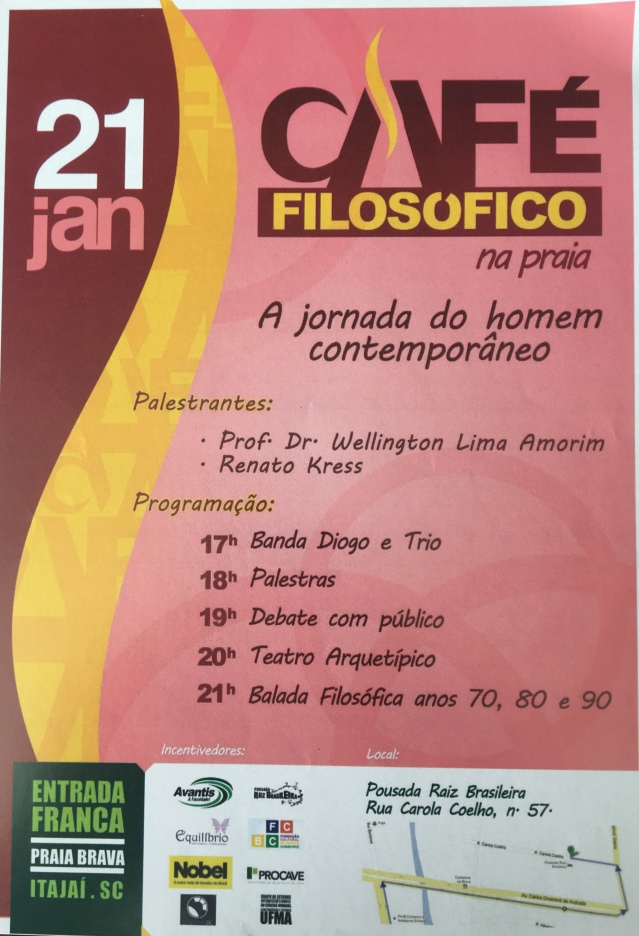
1 resposta »