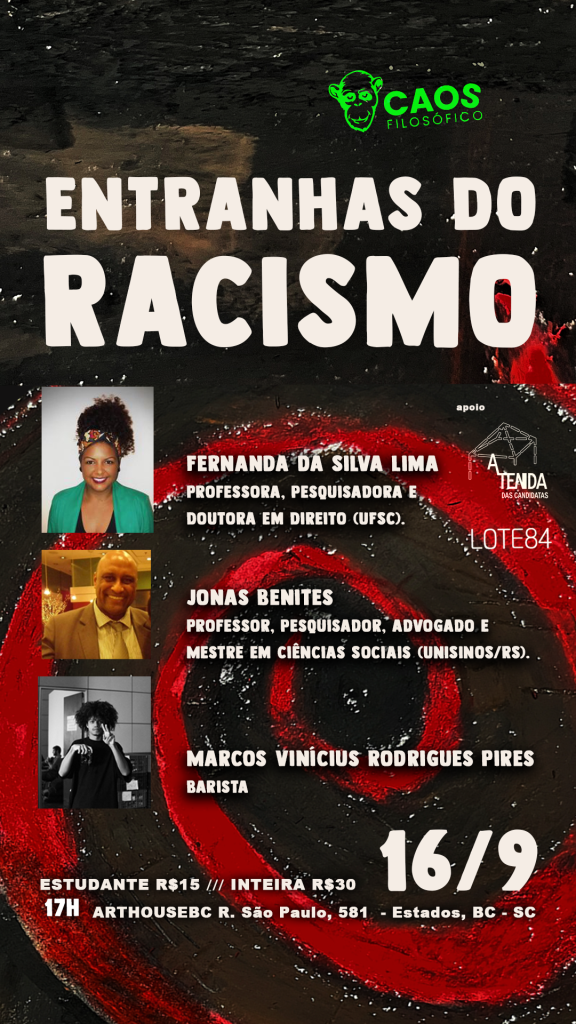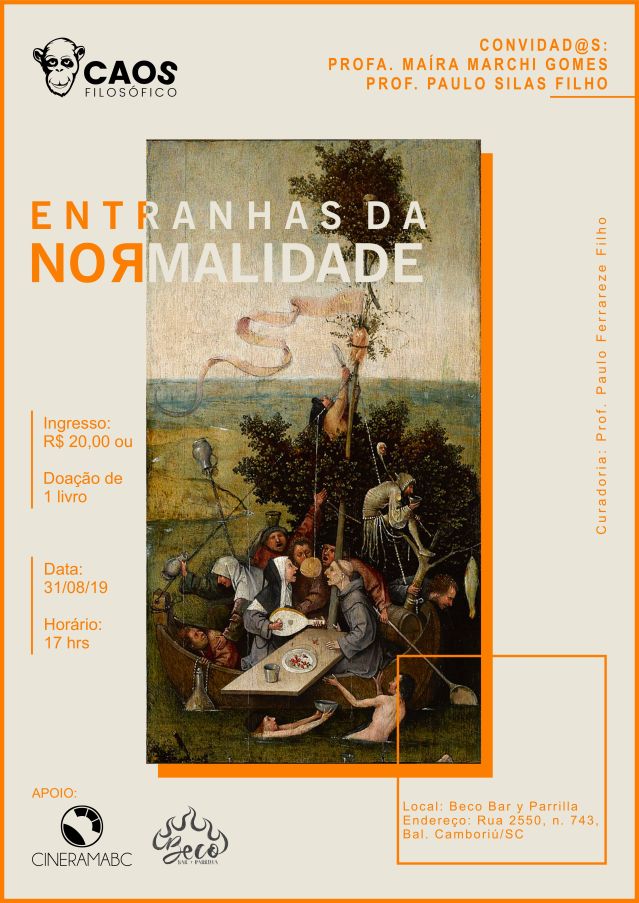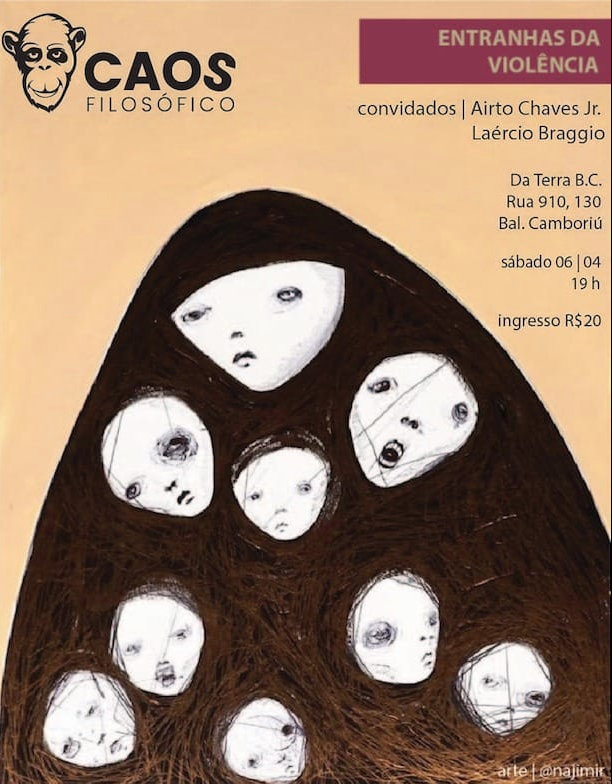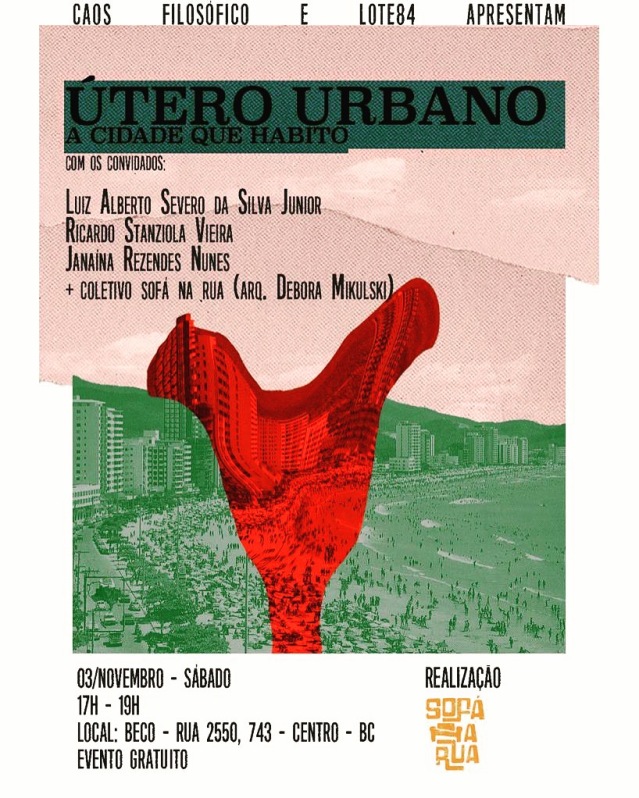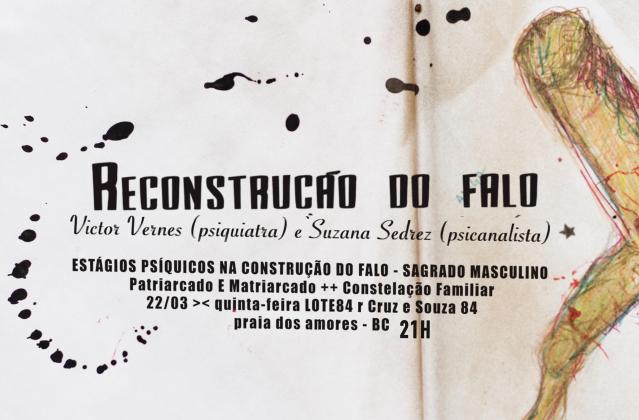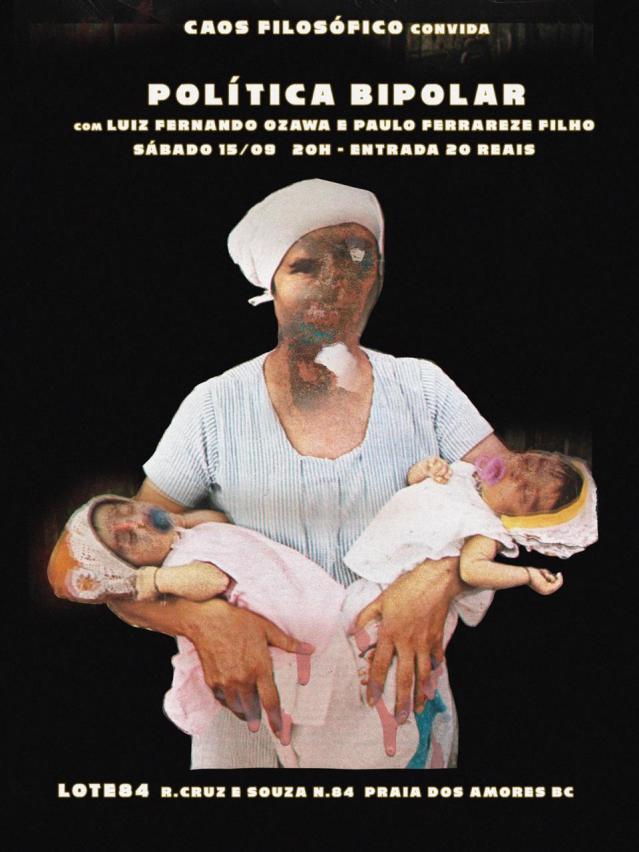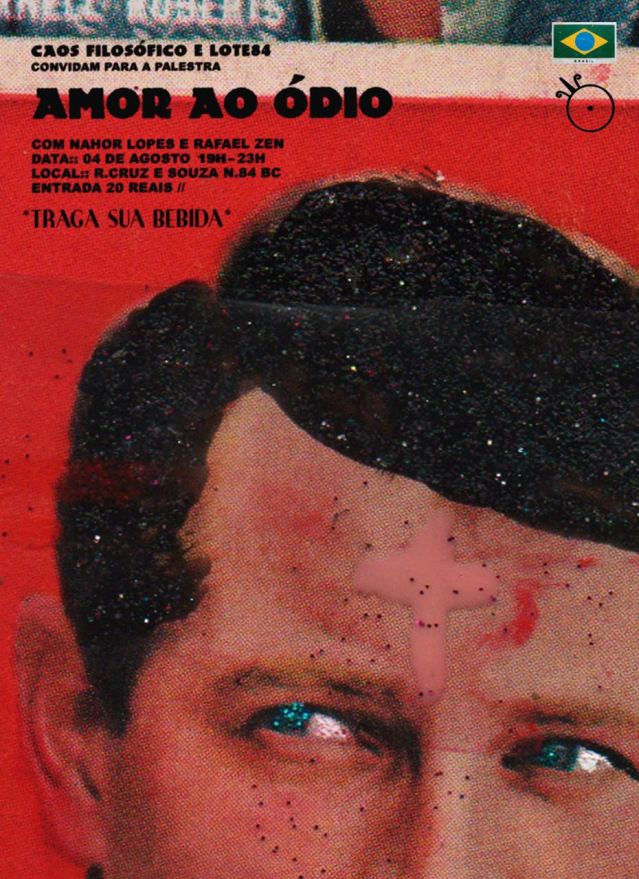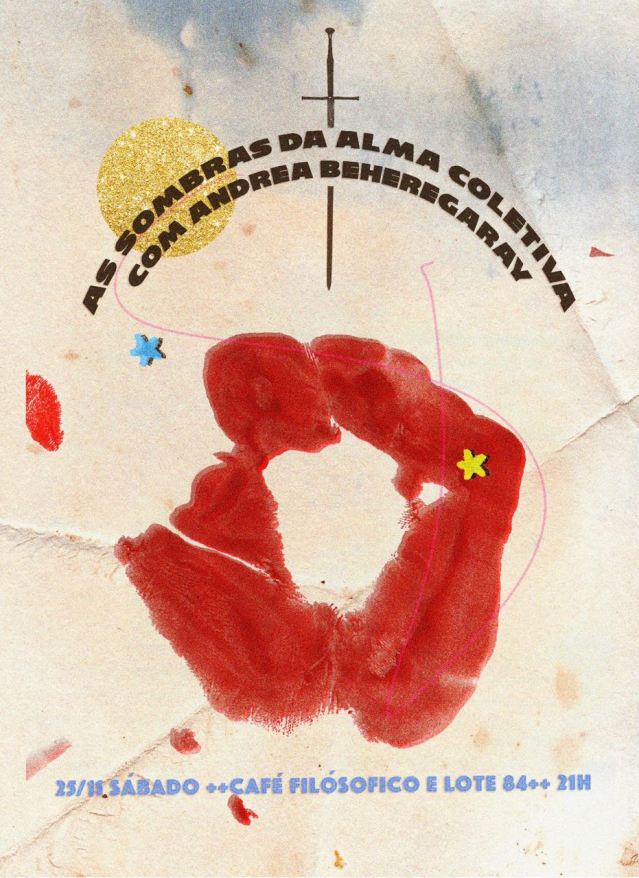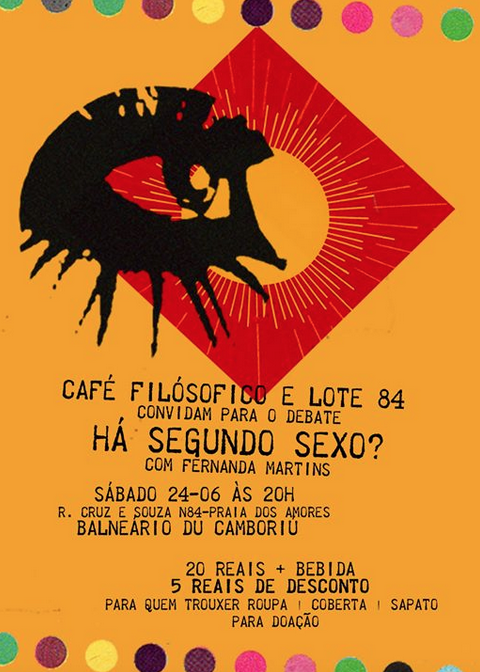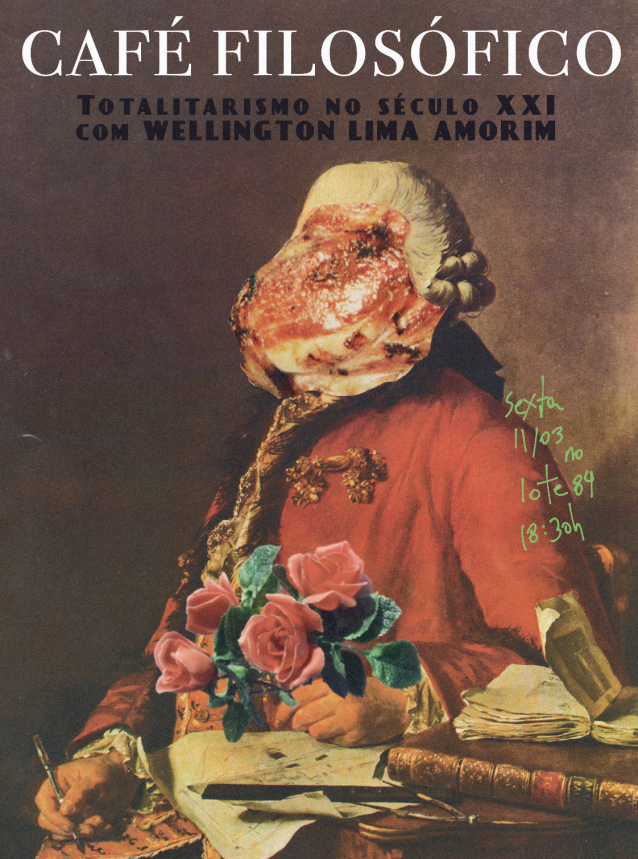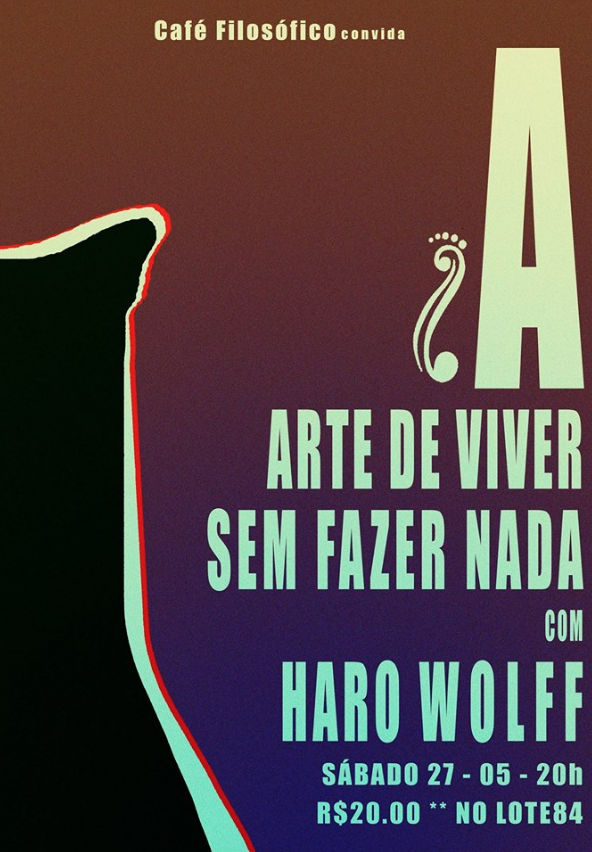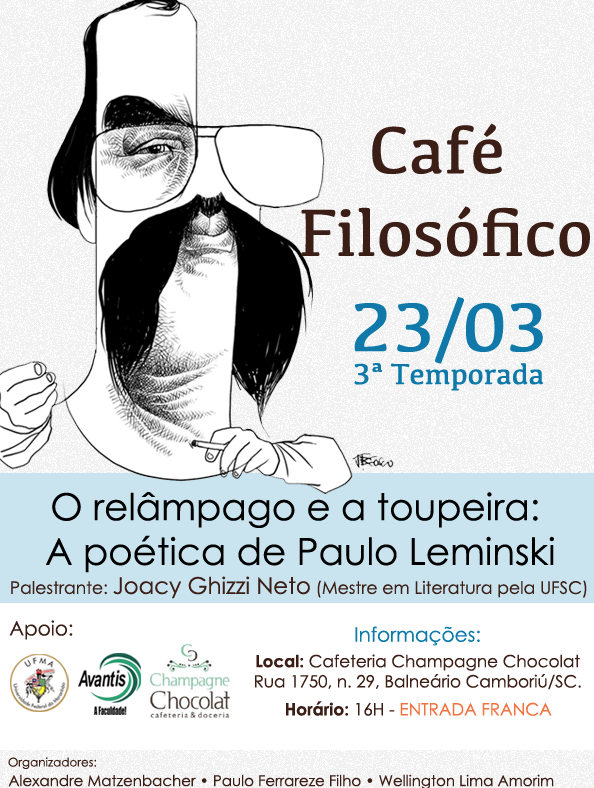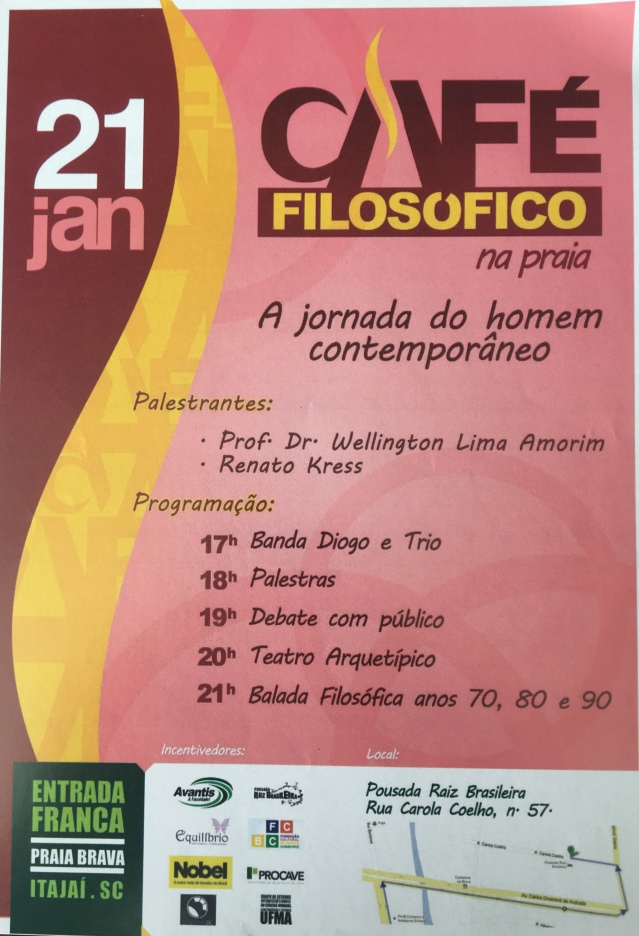por Lucas G. Soares

“Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria”, há 138 anos essa frase encerrava a primeira edição de uma das maiores obras da nossa literatura, Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis, o bruxo de Cosme Velho. Um livro que atravessou as décadas da história nos mostrando em primeira mão mais uma das genialidades do autor, que ainda que essa mesma história queira modifica-lo, negro do Rio de Janeiro. Com um olhar clínico sobre as mazelas psicológicas do sujeito, Machado se encarrega de trazer ao centro de sua criação literária o comportamento humano como objeto principal de discussão, mais precisamente, como escreveu Alberto Manguel, especialista em leitura, em ‘Os Livros e os Dias’, a estupidez como a essência da condição humana. Um assunto relativamente caro à sociedade, a miséria e a estupidez fazem parte de todo o corpus social. O crítico e professor Roberto Schwarz em seu livro “Um Mestre na Periferia do Capitalismo” demonstra com muita clareza como esses aspectos presentes na obra machadiana conseguem tornar-se objetos de identificação em outras sociedades, pois reside nessas histórias quase “uma força de universalização que faz Machado inteligível em línguas, culturas e tempos bem diversos do seu vernáculo luso-carioca e do seu repertório de pessoas e situações do nosso restrito Oitocentos fluminense burguês”. Devido a essa sugestão ao que é próprio do universo, fez com que o jornal Correio da Manhã em 8 de dezembro de 1951, na coluna do crítico literário Eugenio Gomes, publicasse a seguinte frase: “Machado de Assis já não pertence apenas à literatura brasileira”. Entretanto, como a economia e o prestígio internacional se ocupam de dar credibilidade a determinadas coisas, inclusive no que tange a literatura (veja o Boom Latino americano; os autores africanos sendo revisitados na atualidade), após 70 anos dessa afirmação, livros de Machado de Assis não são publicados com periodicidade em línguas estrangeiras, tampouco edições de luxo com uma encadernação sofisticada que a obra devidamente merece.
O professor e filósofo Marshall Berman em seu célebre livro “Tudo que é solido desmancha no ar” realiza uma série de críticas a modernidade, perpassando as obras pilares da literatura mundial. Ele em um dos capítulos dedicado a Goethe, explica como e porque Fausto, personagem épico do livro homônimo escrito pelo alemão, é a representação do primeiro homem moderno, a personagem caracterizada pela constante insatisfação realiza feitos enormes, todos motivados por um desejo impossível, estruturado pela ordem simbólica em que habita. Carente de um Mefisto para colocar à cabo suas vontades, Brás Cubas, protagonista do romance de Machado publicado em 1881, adapta a inquietação fáustica às condições locais. Entremeada de digressões e episódios cariocas, a autobiografia de Brás Cubas vai sendo escrita desde o verme que consome sua carne às situações amorosas com Virgília; o nascimento no centro de uma família burguesa, os “estudos” de Direito em Coimbra, onde ele mesmo relata que se tratava de “um diploma e uma ciência que estava longe de carregar no cérebro “; as veleidades políticas, literárias e filosóficas, tudo descrito por ele, depois de morto, em um livro que serviria como prova de sua passagem na terra. No fim, o que passa diante de nós é o caráter volúvel das estações da vida de um brasileiro rico e desocupado, o professor Roberto Schwarz reitera explicando que o defunto-autor parece “noutras palavras, como o reverso da exclusão de trabalho ou empenho autêntico, e como extensão da iniquidade social”.
Motivado pela vaidade, Brás Cubas se encarrega de escancarar, mesmo de maneira velada – uma sutiliza comum nas obras machadianas – sem obter consciência disso, as características de uma sociedade burguesa carioca do século XIX que seguem de maneira quase religiosa o figurino dos costumes europeus. Um retrato em sépia de uma elite que caminha pela a idiossincrasia, se não o pastiche, da transplantação cultural levado ao limite de sua aceitação. Podemos presenciar como Machado insere as ironias, enquanto articula críticas sócias mordazes, de forma mais clara na estrutura compósita do romance. No capítulo IV – Ideia Fixa, o protagonista presta a citar eventos históricos aos quatro ventos, delineando um saber enciclopédico costumeiro a alta burguesia que necessitava exercer seus conhecimentos para se distinguirem dos demais. Em seguida vemos o mesmo Brás Cubas em um momento de rememoração a descrever suas brincadeiras de infância como quando cavalgava feito um vaqueiro nas costas da escrava da família. Essas mudanças drásticas do arremedo de sua memória seguem quase à contradição. A carência de objetividade e o fastio de Brás, nos fazem avaliar os interesses enigmáticos do autor em destacar a sociedade burguesa e suas próprias tautologias. Brás Cubas de evento em evento, não tem medo de se apropriar das muitas ideologias, mesmo que conflitantes, para compor suas vontades; do naturalismo ao culto religioso, do liberalismo (no evento do empreendimento) ao hedonismo (sua passagem na universidade). A universalização do homem assume, talvez seu maior impacto na obra no capítulo II – O Emplasto, quando o personagem pretende ao criar um remédio, não mais que um unguento, curar todos os males da humanidade, se torna explícito, mesmo no início da história – ou no fim, como já disse, ele está morto – que Brás espera assumir uma posição de destaque, ser reconhecido, uma supremacia privada, particular, comum no pensamento liberal. Apesar das pretensões sua gênese de burguês médio, acostumado com as regalias do poder público e social, faz com que ele desista na primeira adversidade, demonstrando quase um desdém para qualquer empenho profissional. Tais características são reproduzidas de forma mimética no transcorrer das gerações não como um Macunaíma, pois não podemos afirmar que falte caráter na personagem como no herói andradiano, mas como uma convenção dos costumes que se engendram no cerne da sociedade burguesa. A vida política de Brás Cubas é retratada de forma irônica, grifando pequenos gestos e futilidades, enquanto almeja uma supremacia qualquer, melhor personificada na posição de ministro de Estado que não consegue ocupar – Machado reserva um capítulo inteiro em branco sobre este episódio. No vácuo dessa ausência seu comportamento torna-se um modelo que é concebido no inconsciente da classe média. A falta de projetos a longo prazo, a necessidade da ascensão pessoal a qualquer custo e as contradições, fazem parte do itinerário político brasileiro até hoje.
O sentimento de letargia coletiva que atualmente conseguimos presenciar na sociedade não surgiu com Brás Cubas, mas Machado conseguiu pictoricamente retratar isso de maneira magistral, com uma ironia que passa no ponto cego da maioria de uma população que aceita arquivamentos de impeachments de políticos comprovadamente corruptos e considera normal deputados com 27 anos de cargo público com apenas 2 projetos aprovados. Infelizmente Brás Cubas se equivocou quando disse que não transmitiu o seu legado, ele está presente e muito vivo como o verme que primeiro roeu as frias carnes de seu cadáver.
Referências
ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas – Texto-fonte: Obra Completa, Machado de Assis, Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1994.
BERMAN, Marshal. TUDO QUE É SÓLIDO DESMANCHA NO AR – a aventura da modernidade. São Paulo. Companhia de Letras, 1986.
MANGUEL, Alberto. Os Livros e os Dias. São Paulo. Companhia das Letras, 2005.
SCHWARZ, Roberto. Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2000.
Categorias:Sem categoria