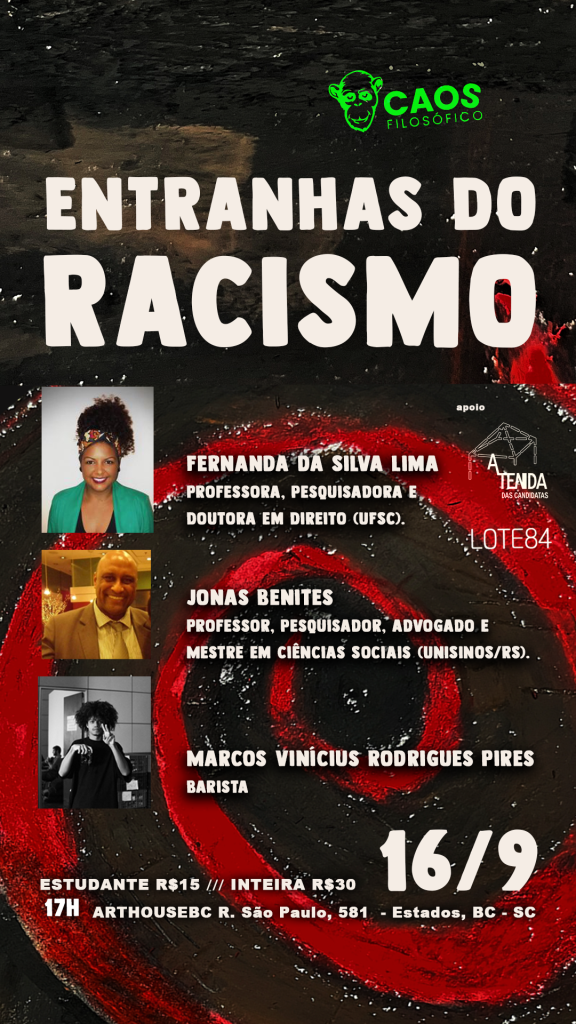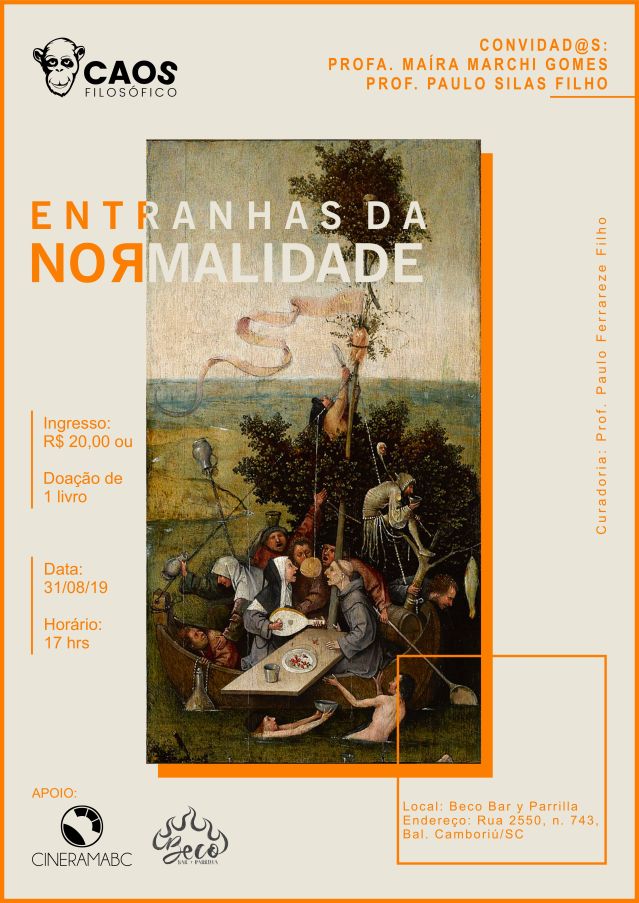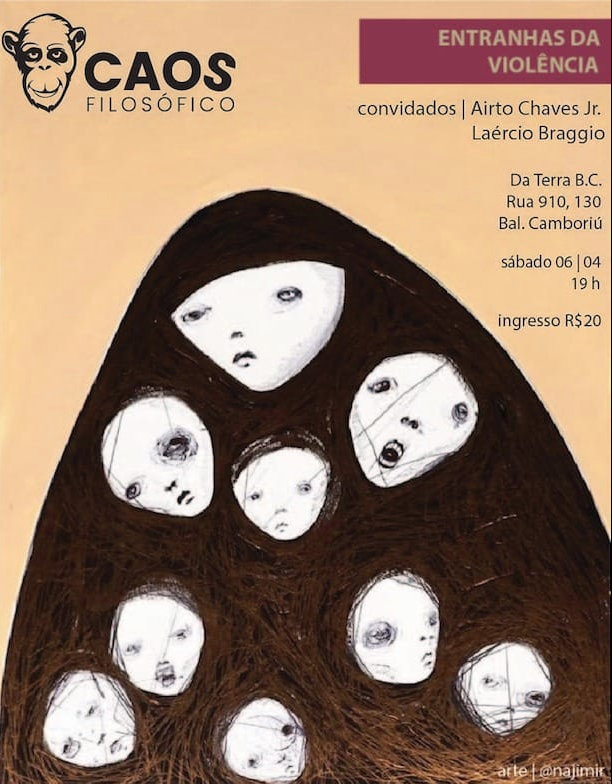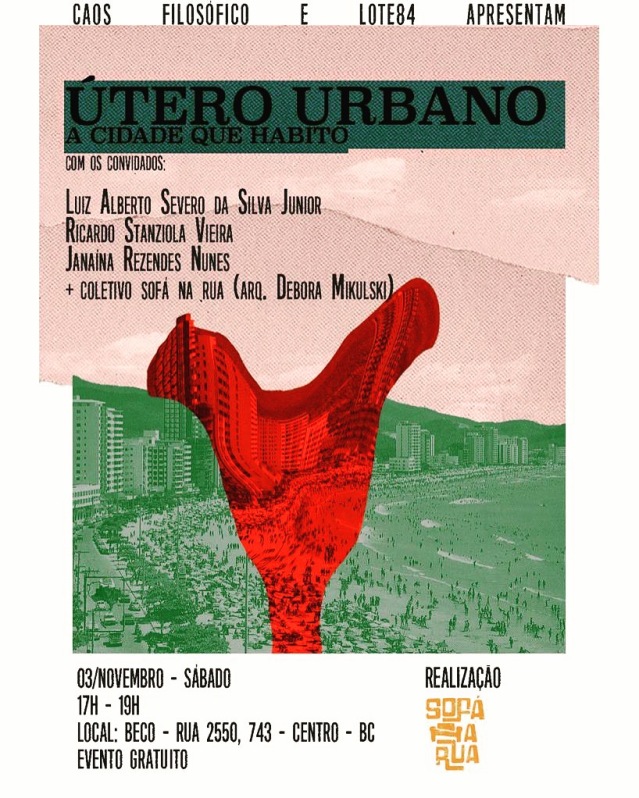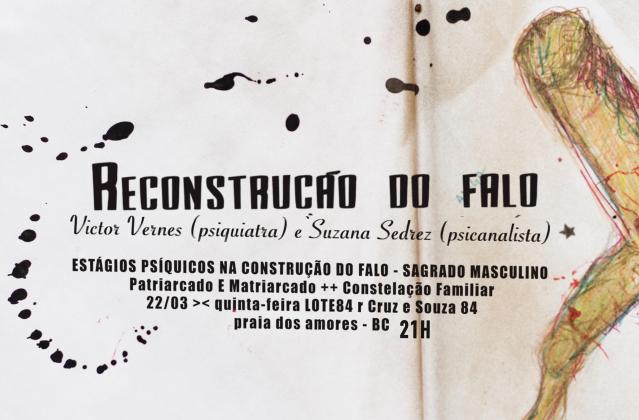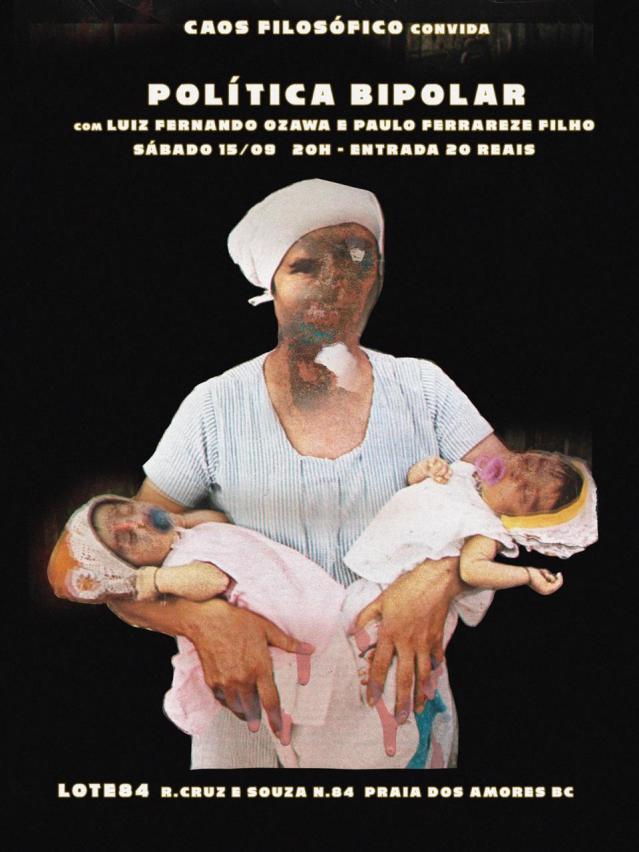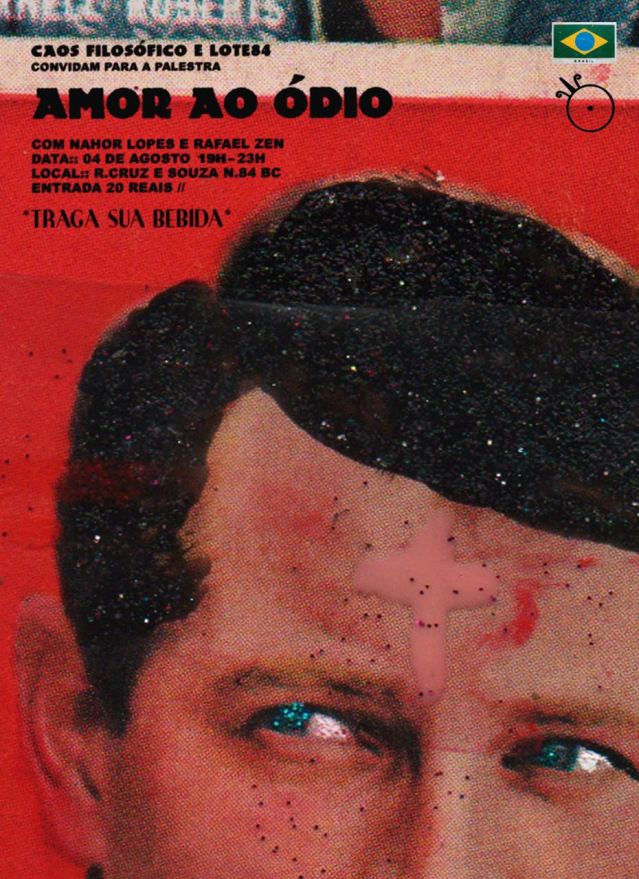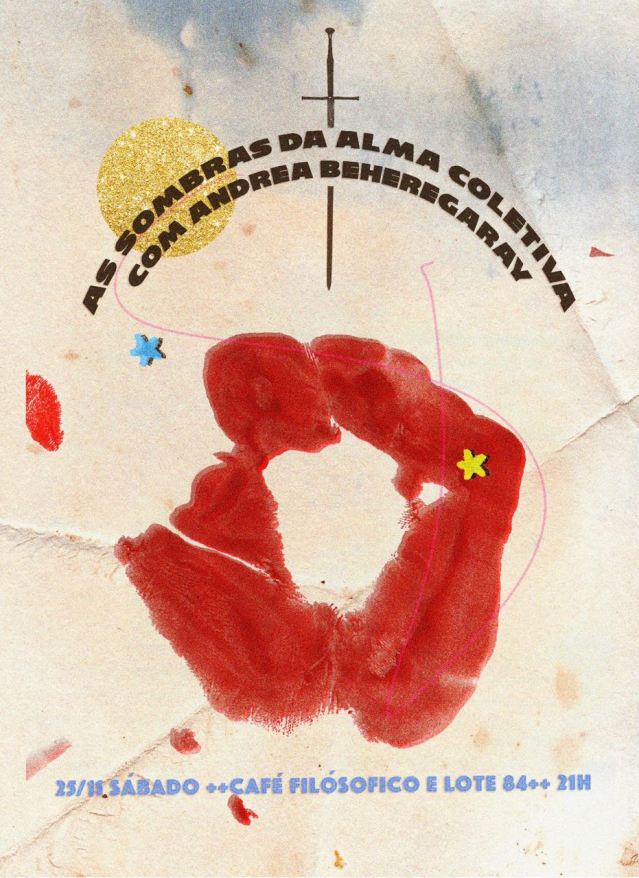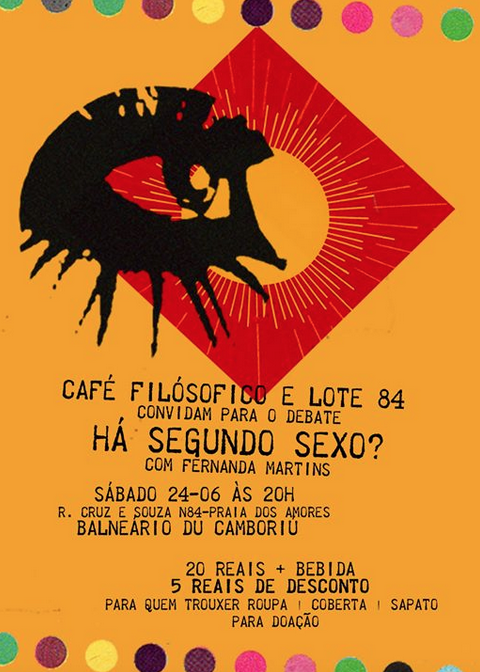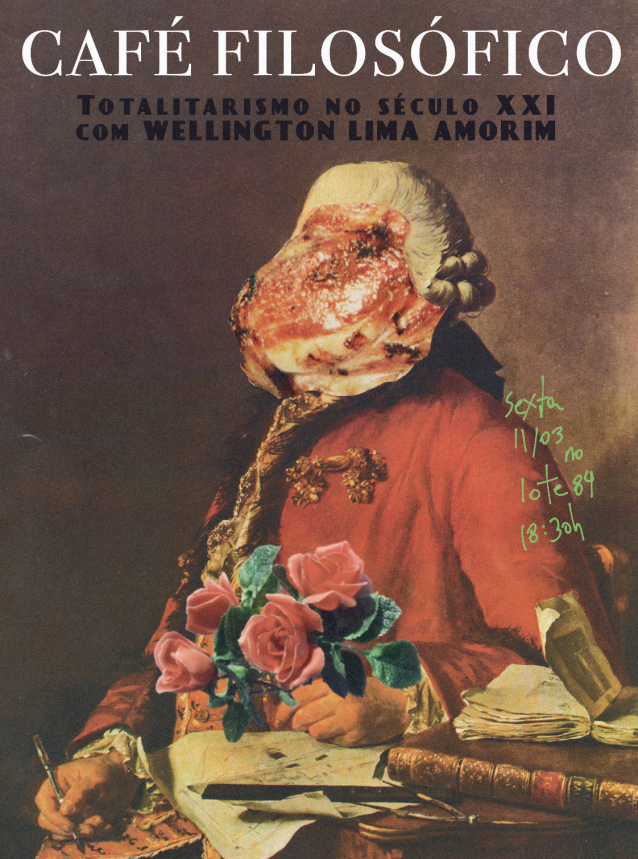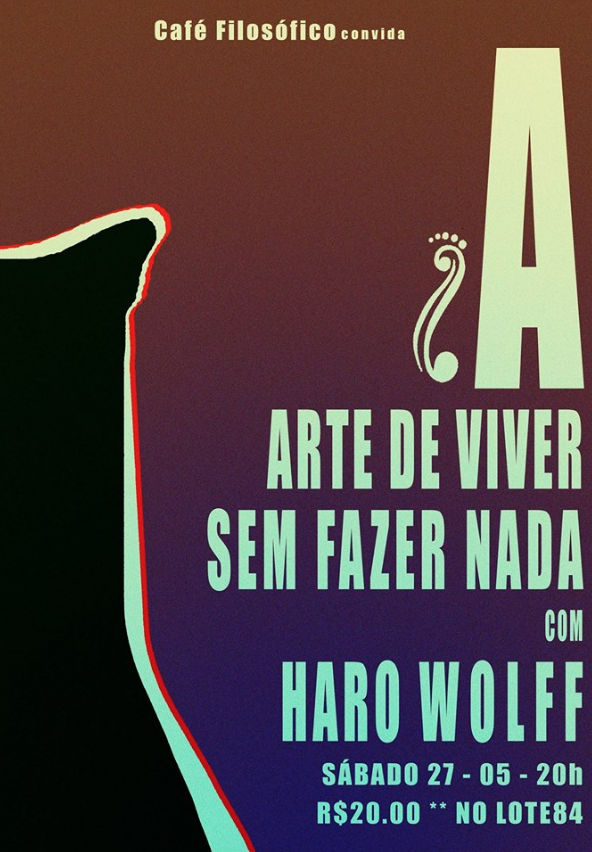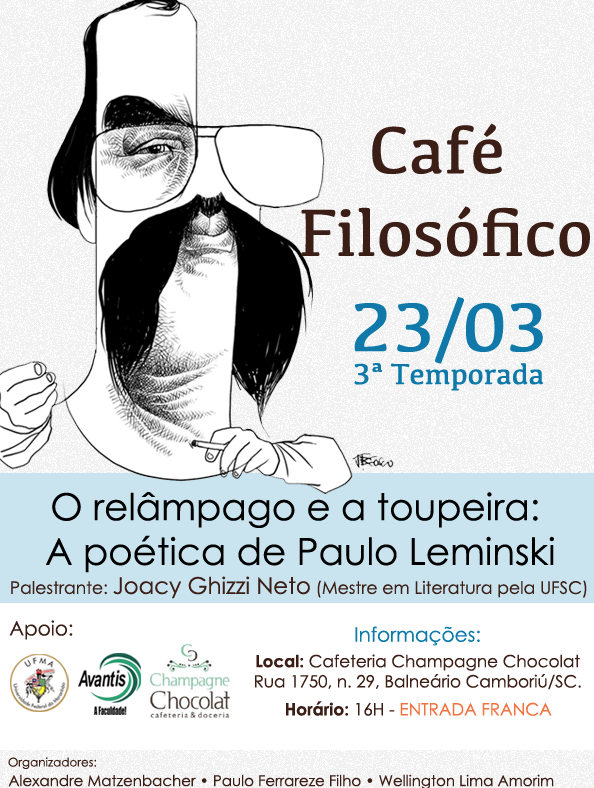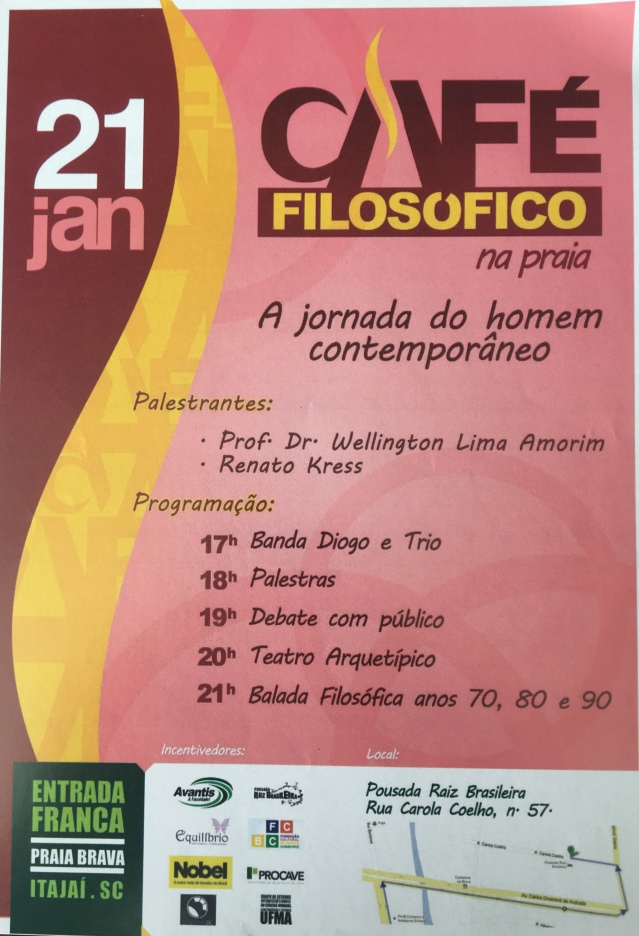por Paulo Silas Filho

No último evento do Caos Filosófico (que tratou das “entranhas da normalidade”), uma das tantas questões debatidas foi uma tentativa de busca da razão pela qual amamos pessoas ficcionais somente enquanto permanecem no plano da existência inexistente, pois caso fossem pessoas concretas, provavelmente as acharíamos insuportáveis de se conviver ou as olharíamos de forma diferente. Dexter, o psicopata queridinho que cativou o público fiel com oito temporadas da sua série, talvez não seria tão benquisto pelas pessoas caso fosse uma pessoa de verdade com seus segredos revelados. House, o médico ranzinza que desvendava mistérios clínicos com a mesma maestria que Sherlock Holmes solucionava crimes, é um personagem com personalidade insuportável a quem costuma se amar, mas que pouco provavelmente seria cultuado com a mesma ênfase pelo público na hipótese de que concreta, no plano da realidade, fosse a sua existência. A primeira indagação, portanto, que aqui se faz é pela busca do motivo de assim ser: trata-se de modo mais compreensivo, reflexivo ou até mesmo receptivo aquilo que se situa no plano do ficcional do que aquilo que está no âmbito da realidade.
Não se pretende aqui adentrar nos meandros da discussão que a própria noção de realidade comporta. Toma-se a sua compreensão de forma genérica como aquilo que (se supõe) existe. Quer-se apenas chamar a atenção para a dicotomia existente nas posturas que se adota quando do contato com pessoas e situações nos planos da realidade e ficcional.
Tomemos o mais recente fenômeno cinematográfico que vem ganhando amplas discussões como exemplo. Diz-se do filme “Coringa”. A construção do personagem na película desde o seu âmago chocou o público positivamente ao considerar que aquela sensação pesada e incômoda com a qual se sai da sessão de cinema ensejou em diversas discussões, debates e reflexões. Ao público é apresentada a oportunidade dada ao vilão para que conte sua história, resultando numa espécie de compreensão que surge pelo ‘ouvir o outro’. Independentemente da quantidade de interpretações que o filme já tenha recebido, o que se destaca aqui é o interesse despertado nas pessoas em ‘escutar’ ao invés do julgamento prévio e sumário – por se tratar de alguém que não seja de carne e osso que assim se apresenta na nossa realidade. Quantos vilões da vida real também tiveram a oportunidade de contar a sua história? Aos vilões fictícios, atenção, louvor e comoção – enquanto aos vilões concretos, o ignorar, o repúdio e a exclusão total. A propósito, há em Curitiba/PR um grupo de acadêmicos entusiastas, o “Cine Debate”, que deu início a uma proposta informal de discussões a respeito de filmes que são previamente escolhidos e assistidos, para que a partir disso, em reuniões livres e desamarradas de formalidades, ocorram debates proveitosos sobre tudo aquilo que é possível extrair da película. O filme “Coringa” foi o responsável pelo início das atividades do grupo, cujo encontro inaugural ensejou em diálogos que são aqui também aproveitados. O grupo é aberto e o convite para a participação de interessados fica aqui registrado.
Qual o motivo de a ficção ensejar um sentimento próprio que possibilita discussões que não existiriam caso aquela história retratada num livro, numa série ou num filme ocorresse no plano da realidade? O enfoque aqui se dá pela ótica do senso comum, pois é onde mais se percebe esse fenômeno.
O ficcional permite se ter contato com detalhes e nuances que num plano outro não se tem – ou não se costuma ter. Com a literatura, por exemplo, é possível ver as coisas com outros olhos. Nos dizeres de Lenio Streck (2013, p. 227), tem-se que “há vários modos de dizer as coisas. Uma ilha é um pedaço de terra cercado por água, mas também pode ser um pedaço de terra que resiste bravamente ao assédio dos mares. É comum dizer que o galo canta para saudar a manhã que chega; mas, quem sabe, ele canta melancolicamente a tristeza pela noite que se esvai”. Talvez sejam poucos os que conseguem captar os detalhes da realidade, cabendo à esses traduzi-los e transmitir aos que não possuem tal aptidão através dos romances, da poesia, dos filmes, das séries e das artes afins. Se assim for, talvez apenas no plano do ficcional é que seria possível para a maioria refletir sobre as nuances tantas da vida e da sociedade, explicando a razão de a comoção, o entendimento, a compreensão ou pelo menos o ato de ‘ouvir o outro’ se faça presente nesse âmbito e não na realidade que nos circunda e da qual fazemos parte.
Quando se fala aqui em ficção realística, portanto, é justamente diante do fato de que muitas vezes as ficções com as quais nos deparamos se tratam de mera reprodução da realidade. É por isso que se tem muito a aprender com a literatura, por exemplo. As ficções, presentes em livros, séries e filmes, em muitas delas, traduzem a própria realidade na qual estão inseridas. O que não costuma se enxergar no plano concreto, vê-se no ficcional – assim como aquilo que não costuma se ouvir acaba sendo escutado na esfera da ficção.
O efeito disso, dessa tradução, também pode ser perverso, pois a ficção estabelecida sobre a realidade da qual se diz pode transformar a própria realidade da coisa, ensejando numa mudança daquilo que era para algo que não é – mas que passa a ser justamente por conta da tradução ardilosamente ou descuidadamente realizada pelo âmbito ficcional. O filósofo Alain de Botton (2014, p. 146) fornece alguns exemplos de como poderiam ser retratados alguns célebres personagens literários caso suas histórias fossem estampadas de maneira resumida em manchetes de jornais. Assim, o Otelo de Shakespeare seria resumido como: “Imigrante enlouquecido de amor mata filha de senador”. Madame Bovary, de Flaubert, seria vendida como: “Adúltera consumista bebe arsênico por fraude em cartão de crédito”. Nem o Édipo Rei, de Sófocles, ficaria impune da manchete jornalística: “Cego por fazer sexo com a mãe”. Perceba-se que aqui o resultado é contrário aquilo que acima se apontou. O que se tem agora é uma ficção criada a partir da realidade, mas que é anunciada como realidade também fosse. De rotulações os jornais e os processos judiciais estão cheios, como fosse possível resumir toda uma situação e um contexto em algumas poucas linhas anunciadas numa plataforma que se pretende vender. Cria-se assim uma ficção sobre a realidade, resultando em efeitos concretos para com aquele indivíduo do qual se diz. O plano de análise é a realidade – um ato do sujeito -, mas quando se transmite essa realidade – através de uma notícia de jornal, por exemplo -, dizendo se tratar de mera transmissão da própria realidade, acaba-se muitas vezes estabelecendo um algo que não condiz com aquilo que a coisa – o ato do sujeito, ou ainda o próprio sujeito – é, de modo que se estabelece uma ficção sobre a realidade que é compreendida inadvertidamente como realidade também fosse. É aqui que se diz da realidade ficcional.
Não apenas as manchetes de jornais estabelecem aquilo que seriam as realidades ficcionais. O senso comum é responsável por grande parte delas. Os ‘mitos’ surgem disso, que são anunciados e compreendidos como projeções realísticas fossem – quando na realidade se tratam de puro engodo. O cenário brasileiro atual está aí mostrando isso. Poucos enxergam, pois faltam tradutores da realidade que de fato consigam visualizar as nuances e detalhes da vida e da sociedade – e quando aparecem e assim fazem, muitas vezes são recebidos com descrédito, ou ainda são vistos pelas pessoas até que com certo entusiasmo, porém, com suas leituras sendo tratadas como mera ficção que não comporta espaço que não na própria ficção – distante, portanto, da realidade.
O Direito é outro bom exemplo de um reprodutor de realidades ficcionais: processos são conduzidos sob a premissa e a aposta de que (re)produzem a verdade da realidade que neles é discutida; textos de lei definem situações que não condizem com a realidade social do meio em que estão inseridos; regras são determinadas e devem ser observadas como se houvesse um valor moral absoluto que todos acatam consensualmente. Tudo isso, e ainda mais, é anunciado pelo jurídico como fosse uma verdade que corresponde à realidade. Há muito de realidade ficcional nesse âmbito a ser levado em conta, pois reproduz efeitos concretos.
Enfim, dos poucos apontamentos caóticos aqui lançados, o que se quer pontuar a fim de chamar à reflexão é que ficção e realidade possuem uma linha tênue que as separa. Ao contrário do que muitos possam pensar, o que diferencia a realidade da ficção é algo muito pouco. Discursos, interpretações, análises, traduções e abordagens pretensamente realísticas sobre a realidade são muitas vezes mais ficcionais do que a própria ficção que assim se anuncia, ficção confessada essa que tem muito mais a ensinar a todos nós sobre a realidade do que os meios que a anuncia (a própria realidade) como realidade fosse.
Por uma maior compreensão das ficções realísticas e das realidades ficcionais que nos circundam – é o que se intenta e se espera.
PAULO SILAS FILHO é advogado, professor de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia (UnC/UNINTER) e mestre em Direito (UNINTER)
REFERÊNCIAS
BOTTON, Alain de. Desejo de Status. Porto Alegre: L± Rio de Janeiro: Rocco, 2014.
STRECK, Lenio Luiz. TRINDADE, André Karam. (Organizadores). Direito e Literatura: da Realidade da Ficção à Ficção da Realidade. São Paulo: Atlas, 2013.
Categorias:Sem categoria