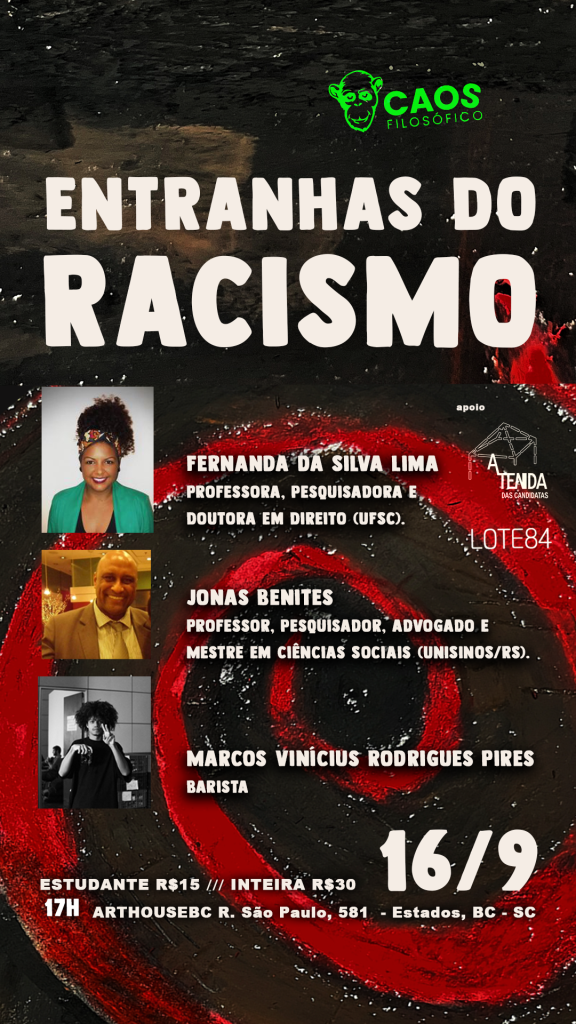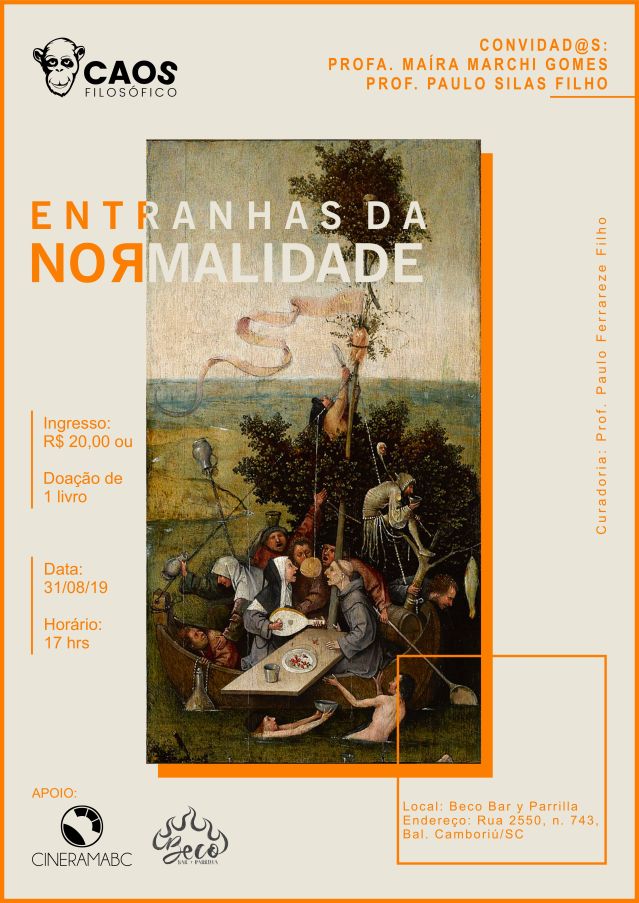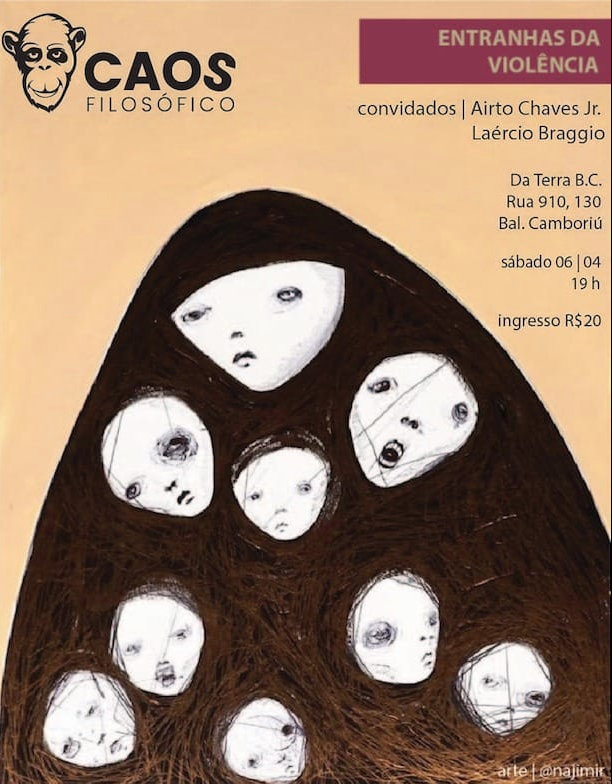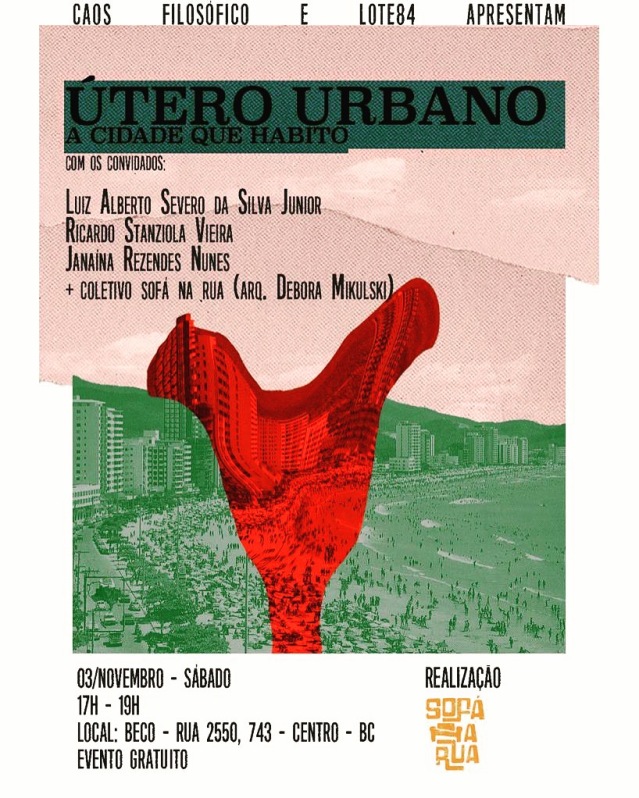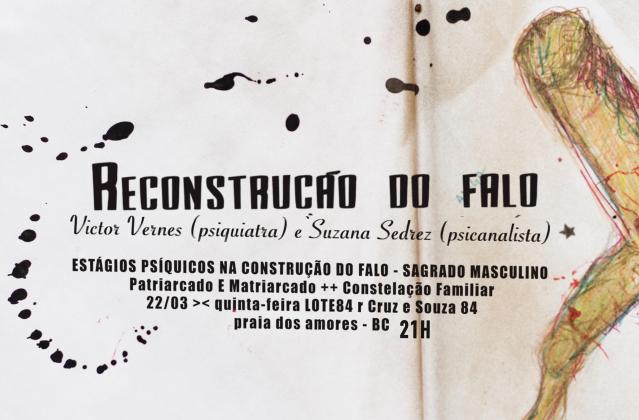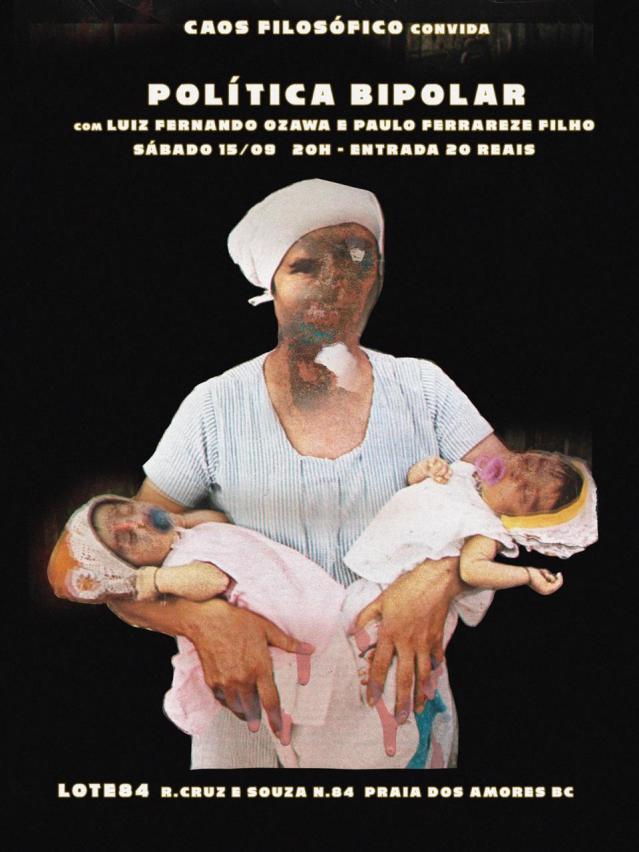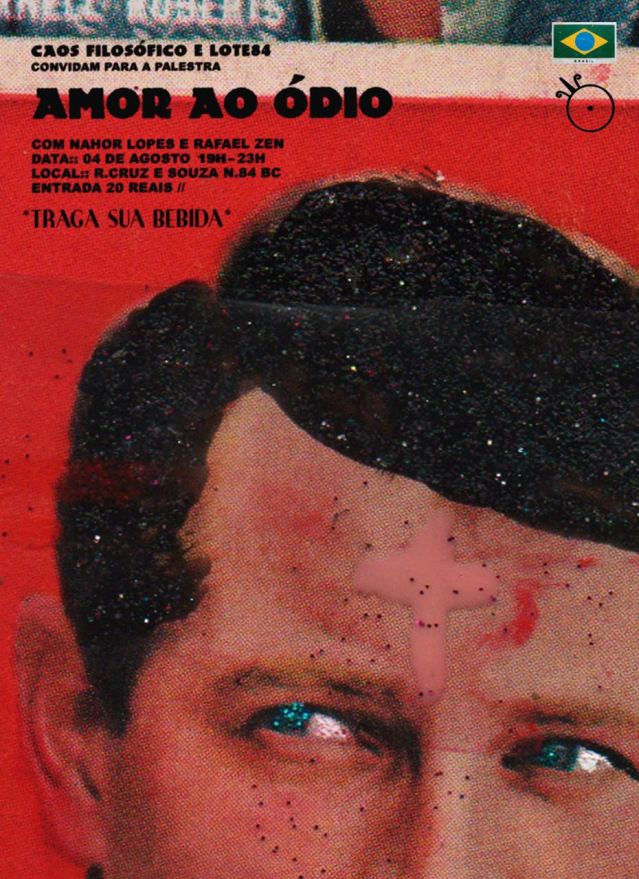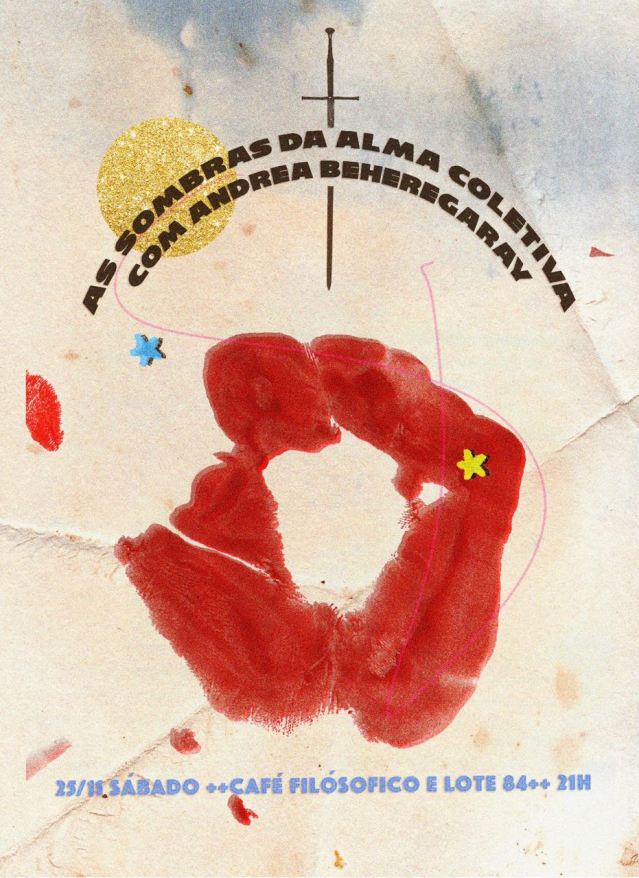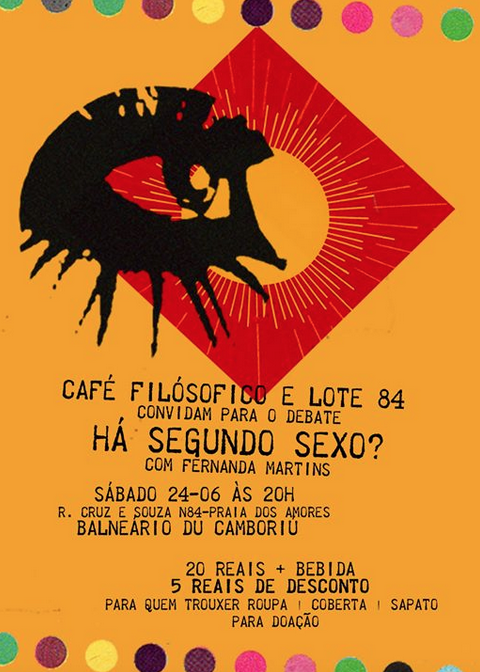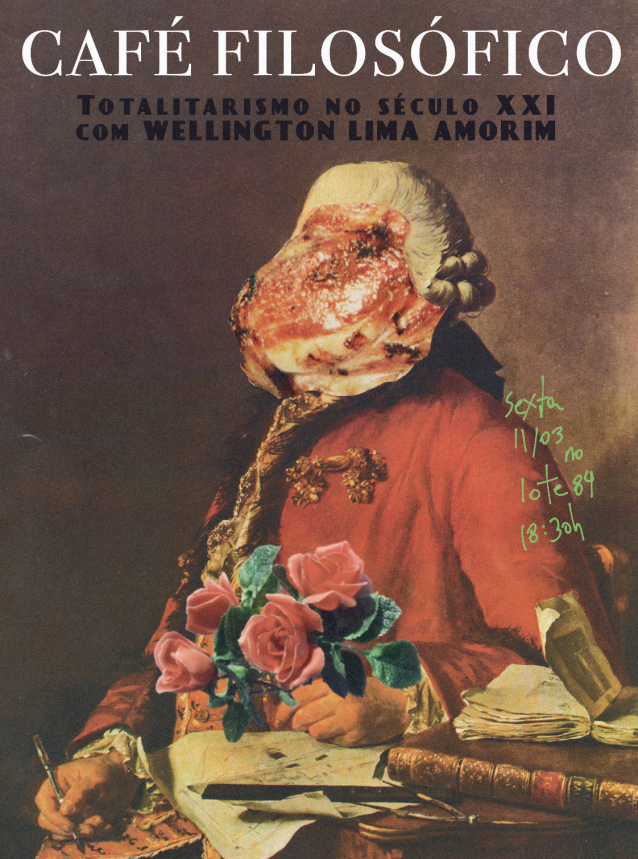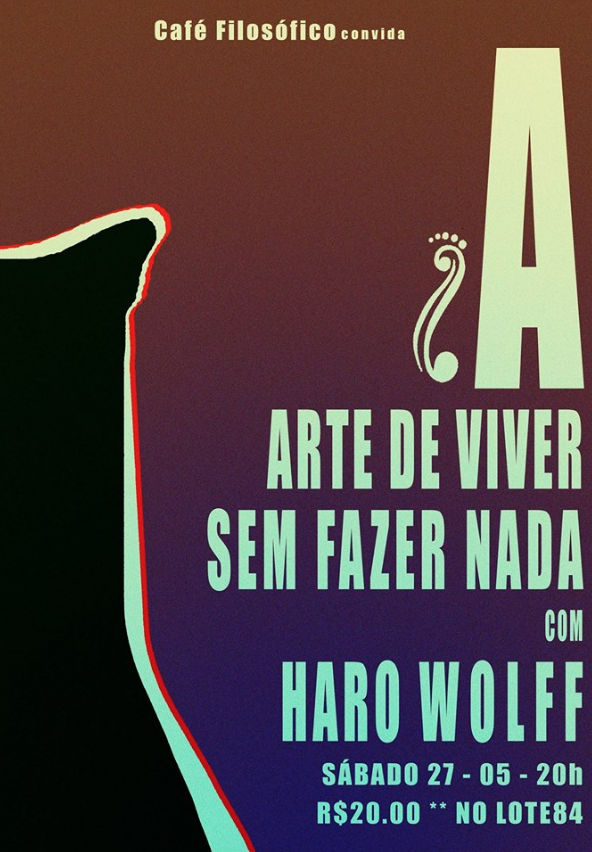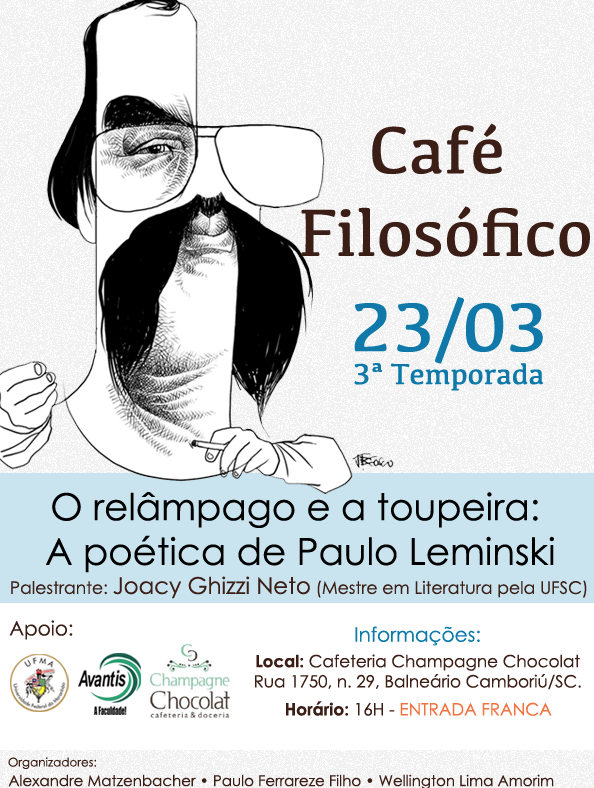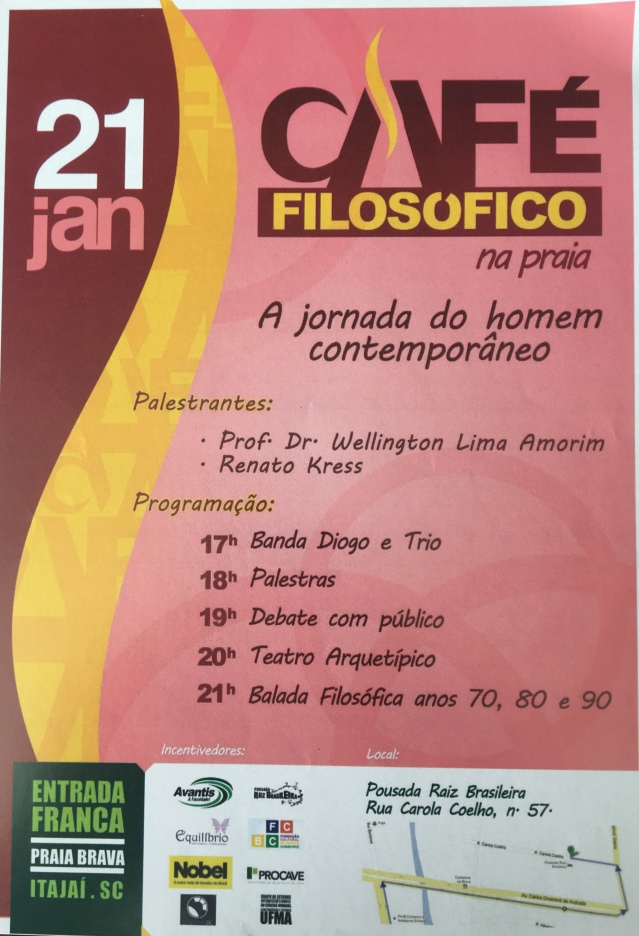por Rafael Zen e Gabriel Lepeck

O termo pós-verdade ficou mundialmente conhecido em 2016, após ser nomeada a palavra do ano e ser amplamente citada nas análises da campanha do presidente norte-americano Donald Trump e do referendo do Brexit, para a saída do Reino Unido do bloco econômico da União Europeia. Já no Brasil a pós-verdade passa a ser debatida de forma mais incisiva nas eleições presidenciais de 2018, quando o candidato Jair Bolsonaro também usou tal expediente.
Porém, são dois acontecimentos antecessores ao século XXI que ajudam a entender as raízes históricas desta terminologia que explica a tendência a crenças em fatos de apelos sentimentais e não naqueles comprovados por dados (ou até mesmo pela lógica histórico-racional), sentenciando que ela pode não ser nova, mas é atual. O primeiro remete às teorias de visão social dos pensadores pós-modernos, com ênfase em Michel Foucault, e o segundo ao aparecimento do termo em um artigo de 1992 do jornalista norte-americano Steve Tesich para a Revista The Nation.
O pós-modernismo é uma escola de pensamento presente em todo o século XX, que teve marco inicial no movimento de “maio de 1968”, onde estudantes protestaram contra o governo francês e levaram a um período de renovação dos valores sociais então vigentes. Foucault relata em Microfísica do Poder que antes da revolta “ninguém (tanto da direita como da esquerda) se preocupava com a questão de como o poder se exercia”. Ao constatar a força das pluralidades sociais no episódio, o pensador direcionou seus estudos para a temática do poder e a construção destes discursos. Aqui, entende-se o poder como narratividade, uma construção (nem sempre factuais) de contextos, acontecimentos e motivações pelas quais se desenrolam diferentes tipos de poder no palco social.
Notoriamente a influência desta vertente de pensamento se perpetua até hoje, principalmente quando se nota os anseios por inclusão, diversidade, liberdade de expressão e de pensamento, determinando também a forma como são definidas as verdades perante a sociedade. Os pós-modernistas questionam a existência de uma realidade objetiva, desgastando a noção da verdade, preferindo entender a linguagem como construção social, formada por múltiplos fenômenos (estéticos, morais, políticos, sociais) que reflete a distribuição de poder por meio de classes, raças, gêneros e não mais a partir dos ideais abstratos da filosofia clássica.
Expandindo a noção das construções sociais, elas podem ser somadas à verdade e à moral, que também são entendidas como narrativas, uma vez que ambas falam sobre modelos criados mentalmente e é nesta leitura comparativa que se pode cunhar o termo pós-verdade, pois ele rompe com a ideia clássica da busca incessante por uma razão unilateral e centralizada.
Por essa ótica, fatos tomam uma forma relativista, com a noção de uma hiper-realidade onde várias narrativas se interligam, mesmo que de maneira desconexa, hiperbólica ou manipulada. A pós-verdade não é falsa, mas pode tender à cristalização da mentira e a banalização do que é verídico, ou seja, a subjetivação do conceito que entendemos como verdade.
Neste novo estágio sociolinguístico, mentir não é assustador nem politicamente incorreto, pois o sujeito pode criar e manipular diferentes narrativas através de seu contexto cultural, desenvolvendo um discurso de autoengano e autoconvencimento. As verdades tornam-se banais, pois não se busca investigar fatos; se uma falácia é proferida dentro do grupo social a qual o sujeito pertence, ela poderá tornar-se crível, já que parece mais cômodo aprofundar-se na bolha. Contrapor tornou-se cansativo.
Um exemplo prático de como a certeza entrou em colapso na pós-verdade é quando se percebe que a exatidão dos fatos deixou de ser uma prioridade. Frequentemente mensagens de WhatsApp surgem com conteúdo pós-verdadeiro, no intuito de denunciar a hegemonia da grande mídia, marcada como tendenciosa perante determinados grupos sociais. Este discurso é apoiado no desaparecimento da lacuna entre o real e o imaginário, uma vez que a teoria conspiratória não será desmentida já que o sujeito pode encontrar argumentos emocionais e narrativos para sustentar seu paradigma do real.
Pode-se datar o surgimento da terminologia pós-verdade ao ano de 1992, quando em artigo para a revista The Nation o escritor Steve Tesich aborda o escândalo político de Watergate que levou à renúncia do presidente Richard Nixon e ao caso Irã-Contras, onde chefes da CIA facilitaram o tráfico de armas para o Irã.
As palavras são as seguintes:
Estamos rapidamente nos tornando protótipos de um povo em que os monstros totalitários podem babar em seus sonhos. Todos os ditadores até agora tiveram que trabalhar duro para suprir a verdade. Por meio de nossas ações, estamos dizendo que isso não é mais necessário, que adquirimos um mecanismo espiritual capaz de despojar a verdade de qualquer significado. De uma maneira bastante radical, como povo livre, decidimos livremente que queremos viver em um mundo da pós-verdade.
É perceptível que o escritor não chega a tratar dos aspectos emocionais que levam aos discursos identificados nos dias de hoje, porém ilustra uma sociedade que já duvidava do que é verídico e buscava narrativas do próprio interesse para explicar a realidade. Já a similaridade com a realidade de hoje reside no contexto de desilusão política e crise democrática. Aqui uma aproximação com o Brasil é inevitável.
A sociedade brasileira passa por um período de grande instabilidade social após investigações de alto cunho midiático que culminaram no processo de impeachment de Dilma Rousseff (2016) e a prisão de ex-presidentes eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva (2018) e Michel Temer (2019). A quebra na confiança dos líderes da nação levou os eleitores a anseios de mudanças que passavam pelo desejo de uma renovação por meio de pessoas não contaminadas pela política. Como Tesich descreve, essa avidez do povo em ser livre e buscar novos rumos acaba sendo desmedida, que abre espaço para fatos alternativos se instaurarem e líderes avessos à democracia emergirem com seus ideais.
Na fragilidade das democracias reside um grande condutor dos discursos pós-verdadeiros. A desconfiança na figura dos líderes leva também a dúvidas perante especialistas; não é mais suficiente analisar os fatos com números e provas (realidade objetiva), é preciso cativar as pessoas, falando as verdades que elas querem ouvir (realidade subjetiva).
Neste ponto que a campanha Make America Great Again (2016)– Torne a América Grande Novamente – de Trump, merece ser citada. Ela trouxe as redes sociais de forma estratégica de vez para a esfera política. Foi ali que o presidenciável encontrou bolhas sociais para as quais poderia moldar discursos assertivos, direcionando suas falas para cada nicho de verdade específico. Prova disso é seu slogan, que logo remete a anseios emocionais e não racionais, que opunha o fato da globalização e da divisão de forças geopolíticas.
Decorridos dois anos da eleição presidencial americana, o contexto de fatos alternativos utilizados na política chegou ao Brasil, com a campanha “Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos” (2018), de Jair Bolsonaro. A semelhança entre os presidenciáveis é tamanha que o brasileiro recebeu a alcunha da mídia internacional de “Trump do Trópicos”, devido à personalidade igualmente controversa, mas principalmente pela estratégia política, onde aproveitou-se das redes sociais para disseminar narrativas dúbias, que atingiam emotivamente grupos sociais específicos, porém sem basear-se em fatos comprovatórios.
O êxito eleitoral da campanha de Bolsonaro endossa a teoria de Francisco Bosco que propõe um novo espaço público no Brasil, a internet. Neste local as lutas identitárias e a polarização se intensificam, gerando também grande tensão. Não à toa o autor compara os indivíduos a enxames de abelhas, que se unem por um ideal e atacam moralmente outras pessoas que ousem ir contra esse ideal. Esses conflitos de opostos compõe o novo cenário estrutural, com ênfase em embates entre eleitores e temáticas políticas.
Com vozes efusivas, a internet se solidifica como um novo cenário de embate sociopolítico, que leva a entender que a pós-verdade é um fenômeno contemporâneo e de grande influência nos estudos que tangem a comunicação social. As redes sociais formam um ambiente distinto de todos já existentes, sendo participativas e interativas, possibilitando a criação de narrativas inverídicas que se conectam emocionalmente aos sujeitos, compartilhadas sem filtros racionais de legitimação. Plataformas como Facebook, Twitter e WhatsApp, são protagonistas (ou vilões) no jogo democrático, como vimos nas campanhas Trump, Brexit e Bolsonaro.
Cabe aos eleitores e cidadãos exercer o senso crítico para não serem vítimas desse novo momento multitelas, onde a atenção parece perder-se em meio a hiperlinks, manchetes, memes e outras mil mensagens. Nesse novo momento, mais do que nunca, contrapor pode ser cansativo, mas é um exercício de sobrevivência.
RAFAEL ZEN é professor universitário e mestre em processos artísticos contemporâneos (UDESC)
GABRIEL LEPECK é publicitário e graduado em comunicação social
Referências
BOSCO, F. A vítima tem sempre razão? São Paulo: Todavia, 1ª ed., 2017.
D’ANCONA. M. Pós-verdade a nova guerra contra os fatos em tempos de fake News. Barueri: Faro Editorial, 1ªed., 2018.
EL PAÍS. Dicionário Oxford dedica sua palavra do ano, ‘pós-verdade’, a Trump e Brexit. Disponível em: https://is.gd/aKPWrP Acesso em: 24 de fev. de 2019.
Categorias:Sem categoria