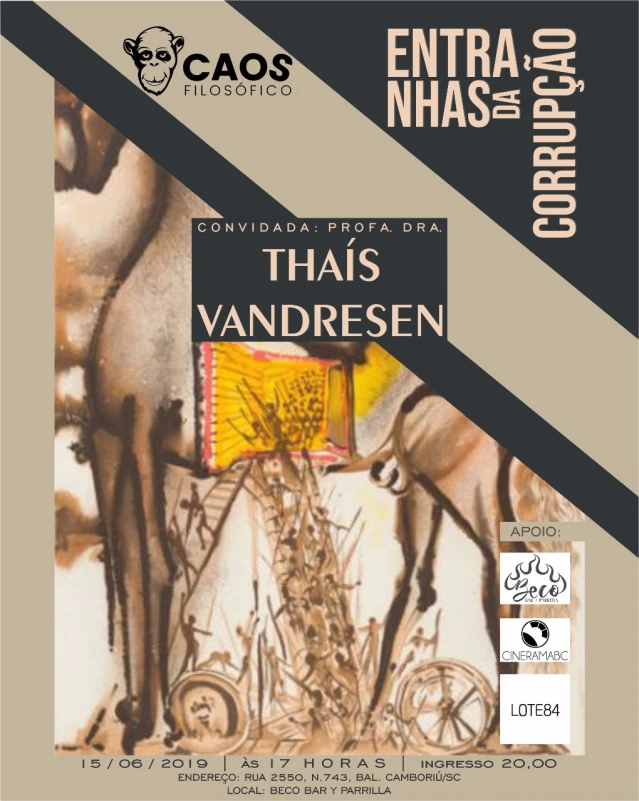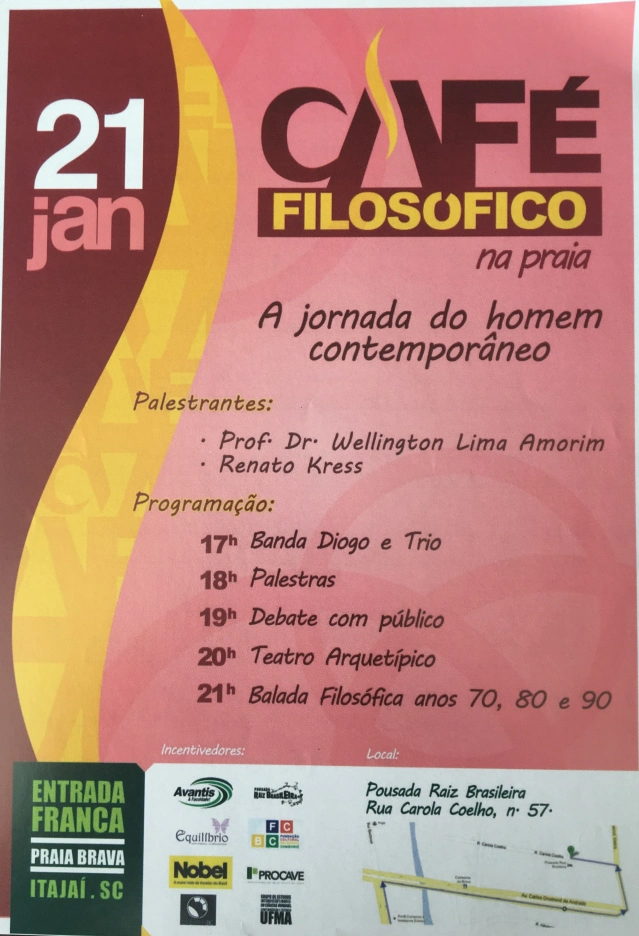por Erico Andrade e Thais Klein

Um coro afinado de crianças negras vestidas de branco ressoa pelas paredes de uma pequena igreja perdida entre os campos de plantação do Mississippi, em 1932. Suas vozes, leves como o algodão colhido das lavouras, prometem elevar as almas daqueles corpos exaustos que sustentam com suor o pesado sonho de uma América grandiosa. A canção é interrompida com a chegada de um jovem negro com feridas no rosto e um violão destroçado agarrado às suas mãos como se fosse um amuleto. O silêncio que toma conta do ambiente é quebrado pelo pastor que, para manter o progresso da América e a segurança física dos negros, condiciona a presença do jovem na igreja à renúncia da vida de músico. O pastor, pai do jovem, fala em nome de um Deus cuja vontade parece estar a serviço do senhor das plantações. Sua missão é eclesiástica: domesticar os corpos para o labor. Música? Só a da Igreja. A nação não pode parar.
É na aliança entre moralidade cristã, capitalismo e racismo que se ergue o projeto de nação norte-americano figurado em Pecadores (2025), marcado pela vitória da supremacia branca e imposto tanto pelo genocídio indígena, quanto pela escravidão nos campos de plantação. Brancos que criam uma irmandade de autoproteção e impõem aos negros o dever de serem exemplos de retidão — uma moral religiosa que garante, no caminho reto do Senhor, a única possibilidade de serem tratados como cristãos. Assim, o único canto permitido é o que se entoa dentro da Igreja, da boca de pessoas negras vestidas de branco.
Uma nação que, como sugere o título do longa de Ryan Coogler, só pode prosperar sob a condição de condenar ao extermínio todos aqueles que resistem à lógica implacável da produção e do consumo. A liberdade individual, ao mesmo tempo em que transforma em ouro (podemos pensar no dólar, moeda de lastro internacional) aquilo que produz, transforma corpos dissidentes em mortos-vivos. O filme não apenas retrata essa dinâmica — ele a encarna ao transportar o blues das lavouras de algodão para as salas de cinema, denunciando a terra prometida como um lugar que só conhece dois destinos: o ouro ou a morte.
A trama se concentra em uma única noite — uma noite que não passa, uma noite de improvisos como o blues, tornando-se um acontecimento no tempo e no espaço. Regressando do Norte, os irmãos Fumaça e Fuligem carregam nos bolsos o dinheiro conquistado nos cassinos para comprar o prédio que antes funcionava como matadouro da Ku Klux Klan. Os planos da dupla de erguer uma casa de blues tecem, num mesmo fio, a história dos EUA e as cicatrizes singulares de suas próprias histórias: de um lado, um pai morto, cuja fama maldita continua a ecoar nas cordas de seu violão; do outro, o tio pastor, cujos sermões tentam domesticar a cultura em nome da sobrevivência. E no centro dessa encruzilhada, o blues.
Longe de ser uma simples trilha sonora, ele é a própria carne da narrativa e carrega toda a ambivalência da esperança de inserção social nesse projeto de nação, sobretudo a partir da promessa de liberdade individual através da ascensão financeira. O blues é o grito e a mercadoria, a força e o fracasso, a lamúria e o espetáculo. Por um lado, uma música de resistência negra e, por outro, objeto de vampirização pelo sistema capitalista e a sua capacidade de tornar tudo coisa sem encantamento.
Pecadores é uma obra-prima da sétima arte que refaz o encantamento do mundo — entre a magia ancestral e os mitos vampíricos. A imortalidade dos vampiros, que sugam a vida para prometê-la apenas após a morte, revela-se metáfora brutal: a América de Trump não criou, mas apenas escancarou essa lógica. Ela ecoa, sem véu, a mesma máxima que justificou os horrores coloniais — “O progresso não pode parar”. Dos campos de algodão do Mississippi às linhas de montagem de Detroit, nos discursos de “Make America Great Again“, o que persiste é a mesma engrenagem que tritura vidas em nome do progresso econômico que supostamente trará a liberdade individual. Uma “grande missão” que, não por acaso, sempre enriquece os mesmos e enterra muitos.
Ao protagonista — o jovem negro, filho do pastor, que é interpretado nas cenas finais por Buddy Guy — cabe agarrar-se à música como quem salva a própria alma. O blues é um caminho que se desloca tanto da igreja, que exige da música uma forma de catequese, quanto contra o capital branco que a reduz a mera mercadoria.
A cena inicial e a cena final do filme se conectam para mostrar que a origem e a história do blues são compostas por múltiplas fases e formas de cooptação. Mas nenhuma delas conseguiu apagar o encantamento experimentado naquela noite: não como louvor de almas cristianizadas ou espetáculo para “branco ver”, mas como exercício profundo de liberdade — uma dança que, em seu ritmo, é uma caminhada coletiva.
Érico Andrade é psicanalista, filósofo e professor de Filosofia da UPFE/ CNPq. Compõe o coletivo Pontes da Psicanálise. Autor de Negritude sem Identidade.
Thais Klein é psicanalista, doutora em Saúde Coletiva (IMS-UERJ) e doutora em Teoria Psicanalítica (PPGTP-UFRJ). Professora adjunta da Universidade Federal Fluminense (UFF-CURO) e professora do programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica (UFRJ). Coordenadora do NEPECC (UFRJ-IPUB).