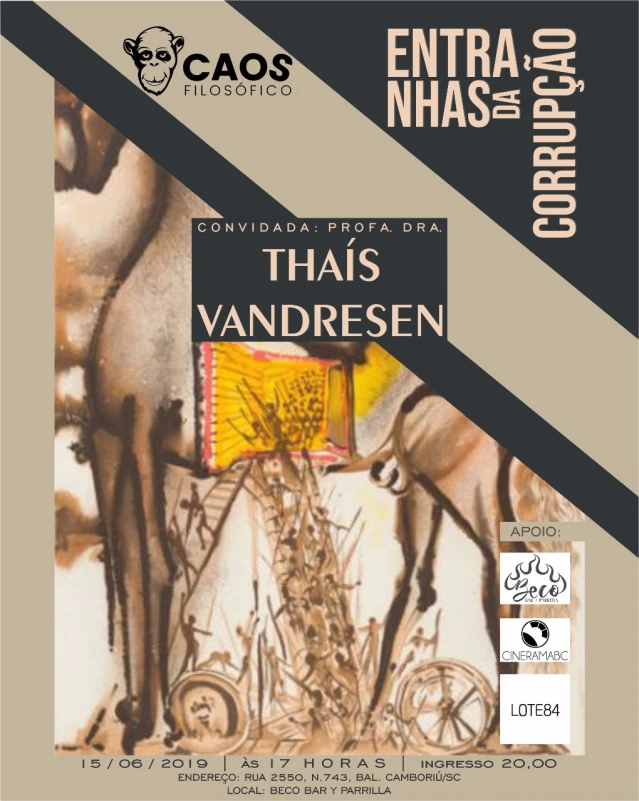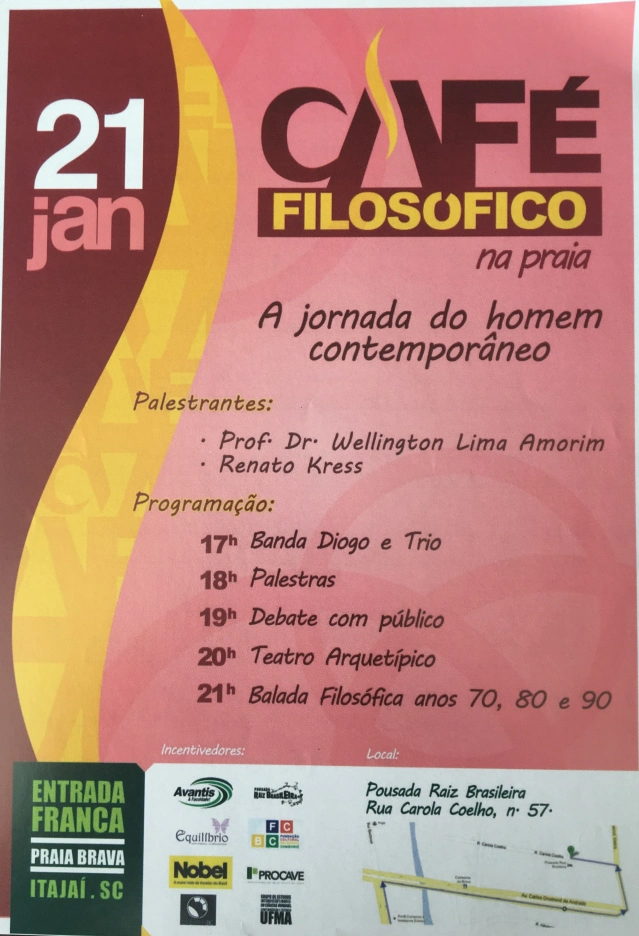por Roger Flores Ceccon

Gilles Deleuze, todas as terças-feiras, por mais de uma década, em Vincennes, repetia o mesmo ritual: chegava à sala de aula e lá estavam centenas de estudantes ávidos por assistir seu seminário. Entrava calmamente, cumprimentando todos, até chegar à sua mesa, tomada por gravadores. Pedia licença para acomodar os livros e começava sempre com a mesma história, de que tinha planejado falar sobre Espinoza, mas na ida para a Universidade, ainda no metrô, havia decidido abordar a obra de Proust. Embora desajeitado e dado ao imponderável, cada movimento era milimetricamente performático. A partir daí os estudantes prestavam atenção aos mínimos detalhes dos movimentos do professor Deleuze, vislumbrando um pensamento prestes a se expressar. Algo que estivesse por acontecer, inédito, fantástico.
Já Michel Foucault lecionava às quartas-feiras no Collège de France e, como descrito por Gerard Petitjean, era límpido e terrivelmente eficaz. Sem a menor concessão à improvisação, diante de um público de mais de quinhentos estudantes, tinha doze horas para explicar, em um curso público anual, a direção de sua pesquisa durante o ano que acabou de findar. 19h45. Foucault para. Os estudantes correm para a sua escrivaninha. Não para falar-lhe, mas para desligar os gravadores. Sem perguntas. Na confusão, Foucault está sozinho.
Deleuze e Foucault, de maneiras distintas, procuravam em suas aulas suscitar um efeito de estupefação e encantamento, ao invés de apenas auxiliar seus alunos na elucidação de um difícil trecho da Ética spinozista ou da História da Loucura. Buscavam, antes de tudo, fomentar sentimentos e sensações mais do que passar um conhecimento específico, um conteúdo. Eram estopins de uma nova experiência de pensamento, afetiva e não somente interpretativa.
Intelectuais e escritores, Deleuze e Foucault foram também grandes professores, como Heleieth Saffioti, que ministrava aulas de todas as disciplinas; Paulo Freire, que ensinava mediante as experiências de vida dos próprios estudantes, em que as palavras presentes no cotidiano eram decodificadas para a aquisição da palavra escrita e da compreensão do mundo; Immauel Kant, metódico, cujas aulas eram determinadas pelo rigor do tempo (reza a lenda que nunca houvera atrasado uma exposição sequer); Milton Santos, de atuação professoral que extravasava a sala de aula e deflagrava na atuação política ao lado de Luiza Erundina; Cláudio Ulpiano, com aulas sobre Espinoza em seu apartamento esfumaçado por cigarros. E outros tantos, cuja ética e implicação com o mundo era capaz de criar possibilidades e acontecimentos, produzir efeitos nos corpos, na subjetividade, além de suscitar afetos e desejos, experimentações. Ninguém sai o mesmo depois do encontro com um bom professor.
Bom professor, aqui, não se refere a uma suposta “qualidade” imposta pelo regramento positivista e mercantil que tomou conta das Universidades brasileiras, com suas técnicas, especialidades e conteúdos, que tornam o professor aquele que ensina uma profissão, forma trabalhadores para o mercado de trabalho, para o Estado burguês, para o neoliberalismo. Bom professor é aquele implicado com a vida, com a sociedade, com o pensamento, com a transformação do mundo. Aquele que cria possibilidades, redes, encontros, acontecimentos; que produz potência, alegria e afetos. Uma aula é como peça de teatro.
Mas os professores, estes citados, estão mortos. Suas performances professorais, capazes de transformar o mundo mais que o próprio conhecimento, jazem no imaginário dos vivos ou na lembrança daqueles que experienciaram estes acontecimentos. Outros, além dos já citados, morrem precocemente, todos os dias, expostos à necropolítica neoliberal periférica. Perdemos neste ano a ilustre Maria Conceição Tavares, e em 2021 tivemos a morte de Roberto Machado e Alfredo Bosi, por exemplo. Perdemos tantos, milhares, vítimas, alguns, da pandemia da Covid-19 e da política genocida que acompanha o país há séculos e que ainda ressoa atualmente. Perdemos, todos os dias, um patrimônio cultural e intelectual materializado no corpo e na vida do bom professor, cujo prejuízo simbólico é incalculável. A sociedade se transformou, mais que uma sociedade que não protege seus professores, um agrupado de gente que muitas vezes os deseja a morte, que os joga ao abismo do fim, cujos corpos se amontoam pelas escolas do brasil.
Em muitos contextos, não há mais a potência suscitada no acontecimento de uma aula e no encontro com um bom professor, como quando o mundo se deparava com a estética de Deleuze em sala de aula. O professor tornou-se desvalorizado em vida e esquecido e substituível quando morto. Tornou-se um avatar do mundo remoto, digital, atrás da tela do computador, em aulas conteudistas e desprovidas de performance e encantamento. Muitos professores foram também se deixando morrer, capturados por discursos tecnicistas e burocráticos. Seguem vestindo máscara e morrem, mascarados, sem ar, sem pensamento crítico e dentro da caixa, sem nem sequer receber uma nota de rodapé. Ninguém chora a morte de um professor. Porque o Brasil, meus caros, não pode parar.
ROGER FLORES CECCON é professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, da Residência Multiprofissional em Saúde da Família e do curso de Medicina do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Pós-Doutor em Saúde Coletiva (UFRGS).